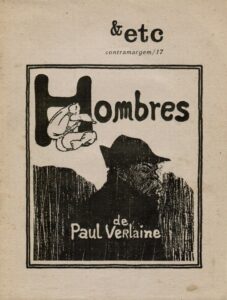1. Ainda bem que o documento “O Nosso Presente e o Nosso Futuro: Algumas Questões Prementes” começa por fazer uma profissão de fé na existência dos partidos políticos – essenciais ao funcionamento da democracia representativa – o que significa que os seus subscritores contam também com eles para ultrapassar os graves problemas de funcionamento com que se debate a sociedade portuguesa contemporânea. É preciso saber resistir aos cantos de sereia dos que já começam a defender, em nome da segurança e da ordem, governos “fortes”. Gente que, como corolário da crítica aos partidos, parece apostar – embora não o diga expressamente – num velho e requentado fascínio por um tipo de legitimidade governativa que desvaloriza as “maiorias ignaras” de que falava Herculano e aposta nas competências técnicas e no mérito dos que supostamente possuem a moral necessária à morigeração da sociedade. Ora é preciso dizer que esse tipo de soluções, extraparlamentares e de pendor ditatorial, já experimentadas anteriormente em Portugal – veja-se o projecto cesarista de Oliveira Martins – está cada vez mais condenado ao fracasso e nunca foi capaz de ultrapassar os vícios dos mecanismos institucionais do parlamentarismo.
2. O documento agora apresentado é sem dúvida um sobressalto cívico importante. Tenho, porém, em relação aos seus resultados, o maior cepticismo. Explico porquê. Tudo passa, inevitavelmente, pelos partidos. Duvido que se consigam melhorar significativamente as coisas com “estes” partidos, caso não estejam dispostos a alterar as regras do seu funcionamento. Ao ler o documento, lembrei-me de um texto arrasador para o sistema político português, assinado por Clara Ferreira Alves no Expresso, em 2008. É um retrato impiedoso do país que somos. Após enumerar uma longa lista de casos graves que abalaram Portugal e que nunca foram resolvidos (desde o enigma da morte de Sá Carneiro ao caso Freeport, passando pelo processo Casa Pia, entre tantos outros) e que são o sintoma mais evidente dos compadrios políticos, do encobrimento e da corrupção a que os portugueses respondem com o habitual e displicente encolher de ombros que os caracteriza, a jornalista conclui: “Existe em Portugal uma camada subterrânea de segredos e injustiças, de protecção e lavagens, de corporações e famílias, de eminências e reputações, de dinheiros e negociação, que impede a escavação da verdade”.
3. Vou pois centrar-me na crise de legitimação do sistema político, e na manifesta inadequação dos partidos políticos aos novos problemas emergentes, por acreditar que as mudanças que o documento propõe passam muito pela superação da incapacidade que estes denotam em integrar e dar solução às exigências de transformação de uma sociedade mergulhada em clima de medo e desconfiança, profundamente assimétrica e desigual, onde, por isso mesmo, sem um resquício de igualdade digna desse nome, a liberdade é privilégio apenas de alguns. As manchas de pobreza e exclusão social são iniludíveis e constituem um poderosos desafio à coesão das sociedades actuais, obrigando-nos a questionar, de forma clara, os conceitos e as políticas de protecção social. O volume de bens e serviços gerados pelo modelo económico vigente acaba por criar obstáculos ao seu acesso por parte de um número considerável de cidadãos. Não significa isso a demonstração clara da muito desigual repartição da riqueza produzida? Não são até estes contrastes entre pólos de desenvolvimento e zonas de exclusão mais chocantes do que no passado? Que crédito nos merecem os actuais mecanismos de redistribuição de riqueza? Não serão o avesso dos propalados valores e princípios democráticos? Eis uma das perplexidades maiores do nosso tempo: os avanços científicos e tecnológicos geram, a par do crescimento da riqueza, uma mole imensa de deserdados e excluídos, gente privada do mais elementar exercício de cidadania.
4. A função política dos sistemas eleitorais não se esgota apenas na nomeação de representantes das populações: deve garantir, também, eficácia governativa. Convém então dizer que o drama da governabilidade não é exclusivamente português. Mesmo em países com tradições democráticas mais arreigadas, a imagem de marca dos partidos está longe de ser impecável. O caso da Itália é disso exemplo elucidativo. Não estaremos perante a inadequação de um determinado modelo partidário a uma sociedade complexa? Tudo está, portanto, em aberto. Como lucidamente avisa Eduardo Lourenço, a democracia não é, por si só, “uma máquina de felicidade política … e se precisássemos de símbolos para ela devíamos associá-la ao trabalho sem cessar recomeçado por Penélope”.
5. Aos partidos políticos cabe empenharem-se no combate à insuficiente democraticidade interna, a qual é inibidora da participação dos cidadãos; promover uma mais equilibrada representação de certos grupos sociais entre os seus membros; garantir uma profissionalização crescente do recrutamento do pessoal político, que até agora não tem passado de um meio expedito de fazer carreira entre as classes privilegiadas; evitar o predomínio dos interesses económicos, que acabam por sufocar todos os outros; centrar o seu esforço na diminuição dos antagonismos de classe e na criação generalizada de índices de conforto e bem-estar. Aquilo a que os partidos chamam “estabilidade democrática”, não passa de uma falácia enquanto as suas formas de agir continuarem a gerar o abandono, a falta de empenhamento e de representação activa de um significativo número de cidadãos. Como refere Eduardo Lourenço, “a opacidade reverteu para o interior de cada partido de massa e é tanto mais densa quanto mais de massa for”.
6. Por outro lado, conviria discutir, abertamente e com clareza, as vantagens e inconvenientes da actual definição das circunscrições eleitorais, ou a própria heterogeneidade dos círculos. Temos dois que, se não erro, elegem quase metade do Parlamento (Lisboa e Porto). Interessam-nos os círculos uninominais ou plurinominais, votar em listas ou em pessoas concretas? Em qual deles é possível assegurar melhor os interesses dos cidadãos e responsabilizar, de forma mais eficaz e transparente, os deputados que nos representam? Valorizamos um sistema parlamentar, semi-parlamentar ou presidencial? Damos preferência a um sistema maioritário (cujo paradigma é o modelo inglês) ou a um sistema representativo como o português? Queremos um sistema eleitoral que dependa mais do eleitorado ou dos partidos? Um sistema gerador de maiorias, que garanta eficácia governativa, embora algo injusto, porque não há tradução correcta de votos em mandatos, ou um sistema eleitoral mais respeitador das minorias, mas que reforça a partidocracia e gera a fragmentação? Qual o modelo que faz ressaltar mais a qualidade dos deputados e um maior controlo dos eleitores face aos eleitos? Que modelo garante um maior rejuvenescimento, substituição ou rotação dos deputados? Qual o que valoriza mais o voto dos indecisos?
7. Os sistemas de partidos reflectem aspectos fundamentais do processo democrático. Estão ligados à autonomia das instituições e à forma como elas permitem resolver o problema dos antagonismos políticos. Que preferimos: um multipartidarismo com partido dominante, o bipartidarismo puro, ou o partidarismo imperfeito? Ao proceder a um balanço dos problemas suscitados pelo multipartidarismo e pelo monopartidarismo, Maurice Duverger opina que o bipartidarismo suprime os conflitos secundários (todas as oposições passam a exprimir-se no quadro de um antagonismo fundamental) enquanto que o monopartidarismo aumenta os conflitos secundários e fracciona os grandes antagonismos. Tal constatação tem levado alguns legisladores a tentar limitar o número de partidos e a fazer caminhar o sistema político para o bipartidarismo. Diria que em Portugal essa tentação é crescente, alimentada pelo desejo de estabilidade política. A questão que tudo isto coloca é a de se saber se não será eticamente reprovável restringir o leque de partidos e obrigar os eleitores a votar apenas em dois deles, que acabariam por funcionar como motores de exclusão de uma boa parte do eleitorado que neles não se revê, pois há cada vez mais gente que não se identifica, ou sente representada, pelos dois grandes partidos que têm alternado no poder em Portugal. Até que ponto uma solução desta natureza não viola o princípio democrático? Num regime genuinamente democrático não deve a maioria permitir que a minoria se expresse na tomada de posições e não apenas de uma forma meramente consultiva? Eis algumas questões urgentes e inadiáveis a que conviria dar resposta, não tanto por se encontrarem na ordem do dia mas precisamente porque tantas vezes o não estão.
8. Assistimos hoje à emergência de novos problemas que alteraram profundamente a organização das sociedades. Basta citar as alterações demográficas e o aumento da esperança média de vida, a persistência do desemprego, o crescimento exponencial de gastos com a saúde, o flagelo a toxicodependência e da sida ou os problemas associados à criminalidade e à insegurança. Nunca como hoje o poder político foi obrigado a renunciar às rotinas da sua actuação clássica e a negociar ou estabelecer consensos com os novos grupos de pressão (ambientalistas, consumidores) ou organizações não governamentais com um campo de actuação ainda mais vasto. Enfrentamos, por assim dizer, uma mudança de paradigma. Sendo certo que não há democracia sem educação para a cidadania, não é menos verdade que o quadro político-partidário não esgota os anseios de uma cidadania solidária e interveniente. Os partidos já não correspondem, só por si, à complexidade das solicitações engendradas pelas sociedades actuais. Verdadeiras sociedades de risco e de ameaça à coesão social, nas quais o Estado se vê confrontado com novas exigências. Urge combater uma nova lógica de desenvolvimento económico que se dissociou do desenvolvimento social, que em vez de colocar a economia ao serviço do homem, colocou este ao serviço daquela. É preciso combater, sem tibiezas, uma política de liberalização do mercado e de maximização dos lucros, que se coloca friamente e sem alma à margem dos problemas sociais daí resultantes. Quanto mais for capaz de minimizar os riscos e garantir a segurança dos cidadão mais fiável será o Estado. É cada vez mais na resolução da aporia exclusão/inclusão que assenta a sua credibilidade e também a do sistema político de representação.
9. A comunhão ideológica parece estar a perder terreno. A expressão corrente e banalizada da intervenção política, abarcando os clichés, os preconceitos, os mitos e as crenças colectivas, os slogans e as vulgatas, não é já uma prerrogativa exclusiva duma casta de políticos profissionais que parece cada vez mais afastada do imenso mundo dos profanos. Seria bom que os políticos interiorizassem de vez o que deles disse há uns anos o filósofo José Gil: que não exercem quase poder nenhum, que dependem de mil forças estranhas, já não controlam nem mandam em quase nada e ninguém, restando-lhes apenas a imagem mediática. Outras entidades não partidárias, onde cabem os movimentos de cidadãos, estão a apropriar-se de forma crescente desses papéis. Num momento em que a crise de expectativas está instalada, em que a fragmentação e a diferenciação são cada vez maiores, até que ponto é legítimo exigir aos partidos políticos, e apenas a eles, resposta para todos os problemas? Estarão habilitados a incorporar a diversidade de especializações que a cada vez maior diferenciação social reclama? É de crer que não, o que leva a pressupor que os partidos começam a perder, tendencialmente, o monopólio da vida política, e vão ser obrigados a estabelecer um novo tipo de relações com novos mediadores de interesses sociais, novos artesãos e fabricantes do pensamento quotidiano, bem como com os vários intermediários culturais que fazem comunicar o chamado mundo erudito e as chamadas classes populares.
10. Ninguém faz hoje juras de fidelidade eterna aos partidos. As expectativas que anteriormente neles eram delegadas estão a ser, de forma crescente, apropriadas por outras entidades. A cada vez maior apetência pela captação do eleitorado central, baseada na política dos partidos que querem “pescar” eleitores em todos os quadrantes ideológicos (os chamados catch all parties) acabou por conduzir à sua desidentificação, ao esbatimento das fronteiras ideológicas e à indiferenciação programática. A volatilidade do voto e a abstenção são sintomas da crise de representação. Os partidos que querem ter futuro têm que dar a volta a esta equação, esforçando-se por acrescentar à democracia interna a capacidade de responder a estímulos externos.
O pior que nos pode acontecer, enquanto cidadãos, é deixarmos de ser espectadores comprometidos e permitirmos que se instale em nós a sensação de impotência para mudar as coisas. Também por isso o documento agora divulgado e subscrito por um grupo de cidadãos é importante e um contributo inestimável para o debate político. É a imaginação social em movimento, a alternativa possível aos poderes instalados do presente. É a tentativa de exploração do possível. A utopia no seu melhor, pode dizer-se. Uma tentativa de, a partir dela, garantir uma tensão no existente, criar contrapoder, abrir “o campo do possível para além do actual”, como diria Ricoeur.
Estarão os partidos à altura de discutir e analisar, de forma crítica e serena, este documento? Vão ser capazes de resistir aos acenos blandiciosos da demagogia e do calculismo político, a que o período eleitoral que se avizinha sempre convida?…