«Harmonia e Vitalidade, duas constantes em que assenta a Natureza e a Arte, ou, se quisermos, duas regras do amplo ritmo cósmico. Quem lhes escapa? Júlio Resende
Galardoado com o prémio literário Carlos de Oliveira, este livro de Arsénio Mota [AM] é em tudo diferente dos que anteriormente publicou. Depois de o ler, e ao senti-lo tão luminoso e carregado de sinais, apetece, para o resumir, recorrer a palavras suas: «Depois de longamente viver e aprender, ou seja, depois de muito possuir e experienciar, é possível que ao indivíduo em maré de balanço no final da existência reste apenas a sensação lúcida de que ao homem despido de ilusões somente cabe guardar palavras e pouco mais na sua passagem».[1]
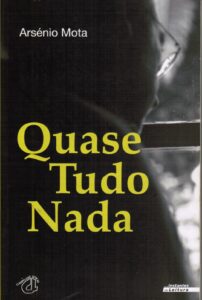 Em Quase Tudo Nada, a narrativa de ficção ocupa-se a desocultar os percursos de uma existência. Assim como quem pretende revisitar o que foi perdendo e não tanto celebrar o que (ainda) tem. A narração é feita na terceira pessoa. É através de Tumim, a personagem central, embora paralela à do autor – contracção de «Tu» (leitor) e «mim» (sujeito escrevente) – que se evoca a passagem do tempo e dos lugares e marcas que ele foi imprimindo em tudo o que o rodeia. Marcas que também talhou em Tumim, uma espécie de diplomas de tudo o que viveu. Marcas e não cicatrizes, porque estas são «monumentos à dor»[2] e o que este livro nos oferece é acima de tudo um hino à vida e não ao sofrimento.
Em Quase Tudo Nada, a narrativa de ficção ocupa-se a desocultar os percursos de uma existência. Assim como quem pretende revisitar o que foi perdendo e não tanto celebrar o que (ainda) tem. A narração é feita na terceira pessoa. É através de Tumim, a personagem central, embora paralela à do autor – contracção de «Tu» (leitor) e «mim» (sujeito escrevente) – que se evoca a passagem do tempo e dos lugares e marcas que ele foi imprimindo em tudo o que o rodeia. Marcas que também talhou em Tumim, uma espécie de diplomas de tudo o que viveu. Marcas e não cicatrizes, porque estas são «monumentos à dor»[2] e o que este livro nos oferece é acima de tudo um hino à vida e não ao sofrimento.
Importa dizer que o mundo em que o narrador se move não o seduz. Ele vai contemplando, do solitário posto de observação, «as lutas vulgares pela conquista de riqueza, poder ou fama como se estivesse colocado num longínquo planeta […] a ver simples micróbios a devorar-se às cegas» (p. 123). Vive cercado cada vez mais de sombras e de silêncios, pois como dizia Torga, «a vida não passa de um progressivo distanciamento de tudo e de todos, que a morte remata. Existir é ir perdendo».[3] Mas, embora cada vez mais apartado do tumulto da vida social, do fervilhar dos interesses mesquinhos e interesseiros, não corta em definitivo as amarras que o ligam ao mundo. É sobretudo através da palavra escrita que mantém o fio de ligação a ele.
Tal como a vida dá muitas voltas e é feita de partidas e regressos, diásporas e peregrinações interiores, assim este livro, para ser digerido e apreciado, nos compele a manuseá-lo em permanentes avanços e recuos. Tarefa que não requer esforço, antes o gesto lúdico de manipular um objecto estético. Afinal, uma outra fisiologia da leitura, que aguça a curiosidade na busca do que vem a seguir e em que o leitor é chamado a conviver de perto com o itinerário de vida do autor, «um fio singelo a desenrolar-se, saindo do novelo, entre todos os outros que com ele se entrelaçaram na vida» (p. 121). A desordem dos capítulos pode aqui ser vista como um equivalente literário do desconcerto do mundo. Ordená-los, dar-lhes uma sequência lógica, é de algum modo porfiar em busca da «harmonia», uma palavra-chave que percorre todo o livro.
O seu conceito de harmonia – cuja busca parece sondar incessantemente, como quem responde ao apelo de um chamamento vital – tem como condições básicas a paz (estar de bem consigo próprio, para poder estar de bem com os outros) e uma «aspiração veemente à liberdade». Devolver à humanidade a liberdade pressupõe coisas tão comezinhas como trabalhar, meditar, pacificar-se interiormente e até alimentar-se de maneira correcta. Tumim insurge-se contra os que comem e bebem o que sabem que lhes faz mal, gostando ele apenas do que lhe faz bem (p. 55). Esta sua consabida frugalidade à mesa assenta numa procura moderada dos prazeres, no sentido mais epicurista do termo. É princípio de sabedoria o homem contentar-se com prazeres simples e naturais, que ao evitarem a dor contribuem para a ausência de problemas (ataraxia).
O narrador serve-se de Tumim para, através dele, expressar a sua vida específica na Terra e as suas interrogações sobre a existência. A vida de Tumim tem muitas vidas dentro, mas nem todas elas são desvendadas. O todo, aqui, é maior que a soma das partes, os oito capítulos que compõem esta obra e que podem ser vistos como outras tantas pedradas que o narrador lança, de forma inteligente, no charco da boa consciência de cada leitor. E cada parte é tão só o que resta da decantação dessa vida na retorta da sensibilidade do autor. Fragmentos apenas, embora talvez os mais impressivos.
Todos juntos formam um arco, onde se inscrevem os verdes anos em meio rural de ambiência bairradina; a emigração, uma espécie de carta de alforria que permitiu a Tumim rasgar horizontes, ir em busca de um achamento interior e de uma afirmação que continuava tolhida no berço; as deslocações ao Porto, que de tão repetidas transformaram a cidade em porto de abrigo e criaram laços que nunca mais desataria; o aprumo cívico perante a polícia política da ditadura, que AM nunca nos contou, por saber que às vezes há mais dignidade no silêncio (soubemo-lo agora, através de Tumim, que vemos a viver de pé, se calhar por se ter cumprido a profecia que o pai lhe contara em miúdo, acerca do caça-rabos); a entrada no período da maturidade, os primeiros sonhos conspirativos e as experiências amorosas, onde discreteia sobre a sexualidade, as mulheres, o amor-paixão e o amor-sentimento; finalmente, o belíssimo capítulo VIII, chave de leitura essencial para compreender toda a espiritualidade que se desprende desta obra. Confissão de um homem profundamente religioso, que um dia descobriu em Amiel o conceito de «religião natural» (hoje tão deliberadamente obscurecido) e passou a fazer dele «ancoradoiro poderoso que não mais deixou de aprofundar» (p. 13). Recorrendo talvez a Hume, entre outros autores.
Com efeito, não parece difícil descortinar nalgumas páginas deste livro influências de David Hume e dos seus Diálogos Sobre a Religião Natural. Isso acontece quando Tumim observa a natureza e o «comportamento dos mais humildes bichos conhecidos» (p. 99) ou quando compara a lufa-lufa dos humanos a «micróbios a devorar-se às cegas» (p. 123). Comparem-se estas frases com as palavras de Hume: «Olhai o universo em vosso redor. Que enorme profusão de seres animados e organizados, sensíveis e activos! […] Mas examinai um pouco mais de perto as existências vivas, os únicos seres para os quais merece a pena olhar. […] Quão hostis e destrutivos são uns para os outros!».[4]
Num extremo do arco da sua existência temos assim o poder encantatório da infância, caldeado com os saberes que só uma vivência rural permite adquirir: tocar o boi na atafona ou em volta do poço de rega, conhecer os segredos da cozedura do pão, dominar a arte de plantar e colher no tempo certo, jogar à bilharda e ao pião, armar costelos e capoeiras, saber os nomes dos pássaros e identificá-los pelo gorjeio ou a plumagem, perceber o que fazem as andorinhas em voo rasante pelos caminhos.
Ao contrário da ciência, a arte não pode prescindir do «eu». Por isso o narrador vai desfiando a história pessoal de Tumim, evocando as origens do menino aprisionado na teia espessa dos medos infantis. Medo de ir ao alpendre mal iluminado procurar achas para a fogueira ou vides para o forno; (p. 105); medo de atravessar a horta escura que dava acesso à adega, onde o mandavam encher a caneca de vinho (p. 106); medo de passar, à noite, junto do cemitério, com a cesta de comida para a ceia do pessoal da loja (p. 113). Medo, em suma, da escuridão, onde abundam morcegos e esvoaçam mochos e corujas de piar agoirento. O escuro, sempre o escuro, matéria de que eram feitos todos os monstros que povoavam a sua imaginação.
Para lá dos medos e fantasmas, expressão de temores antigos que o homem rural aceitava sem reservas, há também lendas e mitos, como a dos sapos que se transformam em pessoas e estas em sapos, histórias de gambosinos e raviolas, coisas que espelham a fantasia e a sabedoria de um povo. AM desdobra também, perante nós, uma galeria de personagens do maravilhoso popular, como a bruxa, o lobisomem ou a moira encantada. O lugar onde Tumim nasceu, cercado pelo isolamento da época e por ambientes nocturnos de medo e soturnidade, era favorável à superstição e à construção dos equívocos que ajudam a diluir o real no fantástico.
No outro extremo do arco da sua existência temos a reflexão madura – misto de interrogação e balanço – de quem não se esquiva à responsabilidade de dignificar a vida enquanto única oportunidade cósmica. Pelo meio, a procura constante da harmonia, que também só pode ser cósmica, já que Tumim acredita numa humanidade «feita da matéria das estrelas, sendo por isso uma forma de vida derivada da vida cósmica» (p. 99). O arco completo deve aqui entender-se como o desenho de toda a evolução do autor, simples amadurecimento do qual parece arredada qualquer conversão (ruptura) de valores morais ou ideológicos. Um amadurecimento que se afigura mais a síntese da harmonização dos contrários que o resultado da sua ruptura. É isso que AM nos diz, quando compara a memória do que foi vivendo às fibras concêntricas do tronco de um pinheiro: simples acumulação de experiências que «desenvolveram a matriz sem a negar» (p. 119).
Fixemo-nos então no extremo do arco que representa a etapa actual da sua existência. Eis o homem em serena retrospecção, instalado no seu posto de vigia, envolto na «macia penumbra da casa», a contemplar o mar e o azul dum céu «varrido de nuvens» e com a «brisa em repouso» (p. 119). A solidão pode não ter cura quando é um mal que nos vem de dentro. Mas a beleza e a serenidade que irradiam desta descrição de um fim de tarde decerto que ajudam a aliviá-la. São verdadeiros soporíferos de deslumbramento, misto de paisagens e oceanos que fazem bem a quem tem alma de poeta e alguma sede de infinito.
Quase Tudo Nada: três termos que podem ser entendidos como a síntese derradeira de uma vida. O Quase nada tem a ver com o célebre poema homónimo de Mário Sá-Carneiro. De facto, para AM a «disciplina do quase» permitiu-lhe «chegar à beira de cada posição para a conhecer e se cumprir» (p. 120). O seu Quase parece não tocar o Tudo por mera renúncia voluntária, condição essencial na busca da harmonia, já que a vida lhe ensinou que «o sofrimento se origina na fogueira dos desejos; portanto, desejar o menos possível é regra máxima da sabedoria» (p. 124). Ao invés, o do poeta do Orfeu não toca o Tudo porque lhe falta o golpe de asa.
Neste sentido, Tudo remete-nos para a força da vida, o período de pujança e maturidade do autor, e não para qualquer ambição desmedida. Já o termo Nada parece remeter para um final, para a natureza fugaz de todas as coisas, porque tudo é efémero. Como refere AM, «a verdadeira liberdade do ser começa precisamente aí, no essencial desapego dos objectos da comum cobiça» (pp. 97-98).
Este livro mostra-nos a aprendizagem da vida e a lenta construção de um homem em diferentes contextos geográficos, sociais, morais e psicológicos. Um homem que se deixa viver, um pouco à semelhança de Sinclair, cuja maturação emocional e espiritual Hermann Hesse descreve no seu «Demian». Fala-nos de caminhos éticos e de valores humanos, procurando partilhar com os leitores a interrogação à vida e o sentido da existência. Aborda a questão da tolerância e da compaixão pelos outros, mostra-nos o que é realmente importante e valioso, como o viver discretamente, deixando o destaque para a sabedoria e a rectidão de carácter. Um homem assim não confunde a realização pessoal com o exercício de qualquer poder. Acalenta sonhos em vez de ambições.
Em nenhum outro livro AM nos desvenda os estados de alma e nos franqueia as portas para mostrar os veludos da interioridade, como neste. Em nenhum outro o descobrimos tão fascinado com o pormenor. Observador atento e de fina sensibilidade, revela-se um amante da natureza, invariavelmente sábia e com quem todos aprendem. Por isso acredita que uma vez perdida a vestimenta física há-de dissolver-se plenamente nela.
Tempo de reencontro. E de serenidade.
(Texto publicado no Jornal da Bairrada, 11.10.2006, p. 20).
[1] Arsénio Mota, Letras sob Protesto, Porto, Campo das Letras, 2003, p. 164.
[2] Luís Sepúlveda, As Rosas de Atacama, Porto, Edições Asa, 2001, p. 104.
[3] Miguel Torga, Diário XII [2ª. Edição], Coimbra, 1977, p. 79.
[4] David Hume, Diálogos Sobre a Religião Natural, Lisboa, Edições 70, p. 122.
Depois da tua apreciação sobre este livro de Arsénio Mota, fica o grande desejo de o ler! Não sei se vou conseguir encontrá-lo!
Creio que o encontras com alguma facilidade. Já me tenho “cruzado” com ele em algumas livrarias. E há sempre a possibilidade de o encomendar pela Net. É assim que costumo aceder a obras que já se encontram fora de circulação no mercado editorial.