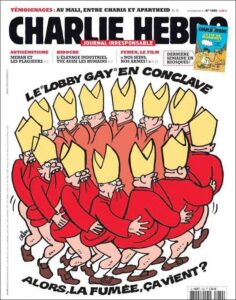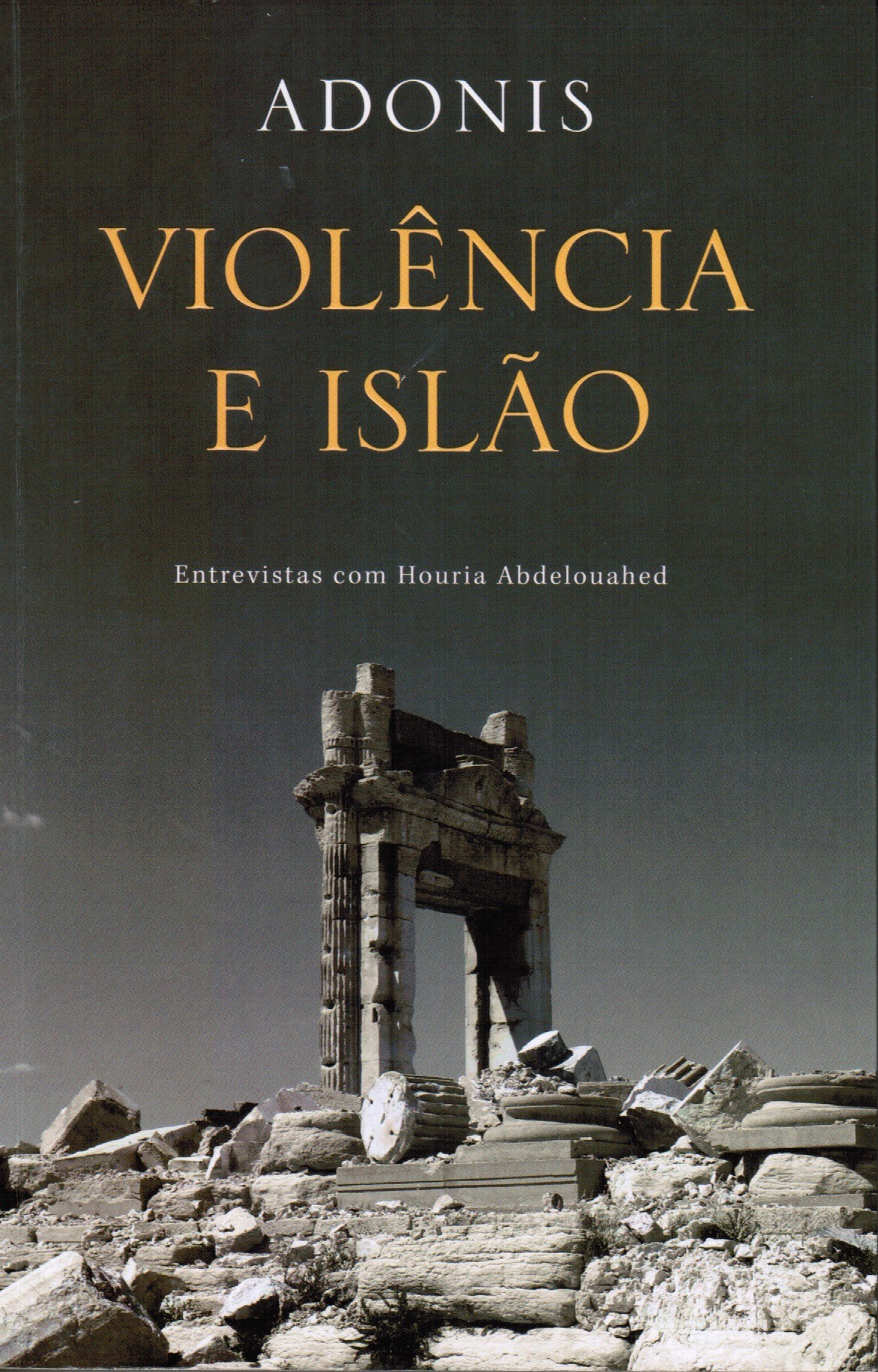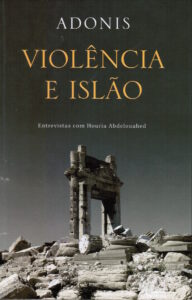Vi, há dias, Dois Papas, do cineasta brasileiro Fernando Meirelles. Um filme que nos mostra a perda de espiritualidade, o peso e a influência da Igreja Católica na sociedade e o eterno debate entre conservação (a de Ratzinger, conhecido como “rottweiler de Deus”) e renovação (a de Jorge Bergoglio). O arco temporal tem início com a morte de João Paulo II, avança para a renúncia de Bento XVI e culmina com o pontificado do Papa Francisco.
Bento XVI, o consistente teólogo alemão que prefere o uso do latim, com vincadas preocupações escatológicas, sisudo e inflexível, é interpretado de forma primorosa por Anthony Hopkins. Francisco, o jesuíta argentino, bem menos formal, que assume gostar de futebol e de dançar o tango, capaz de trautear, no interior do Vaticano, Dancing Queen dos Abba, beneficia também da excelente interpretação de Jonathan Pryce.
Podemos falar de diferentes cosmovisões, do inevitável confronto de personalidades entre o temperamento germânico e o latino. Só que o filme talvez seja um tanto injusto para Bento XVI, por tender para a hagiografia de Francisco. Ratzinger encarna o papel de vilão, do homem que prefere almoçar ou jantar sozinho mesmo quando tem visitas. Bergoglio é-nos apresentado como um homem mais popular. Apenas alguns exemplos: não se inibe de saborear uma fatia de pizza ao ar livre, numa barraca de Roma; uma vez eleito, abdica dos sapatos vermelhos que muitos identificam como símbolo de vaidade, quando na verdade representam um símbolo de tradição. E também abdicou de outras vestes, ao ponto de o ouvirmos dizer no filme, no preciso momento em que assume essa rejeição: “não estamos no Carnaval”.
Ora é preciso dizer que algumas vestes podem ter tanto de simbólico como de ridículo. Se é isso que muitos pensam do solidéu, do barrete cardinalício e até de certas rendas, não é menos verdade que esse vestuário também funciona como veículo de comunicação e por isso mesmo de poder. E já agora: usar trajes em momentos especiais não é apenas apanágio da Igreja Católica. Outras instituições o fazem, como as universidades e os tribunais. O problema, quanto a mim, é de outra natureza: acredito que é possível prescindir da ostentação sem perder a dignidade. Esta pode estar mais próxima da simplicidade do que aquela.
Apesar de não ter sido escamoteada a ambiguidade que o cardeal de Buenos Aires assumiu perante a ditadura militar argentina (1976-1983) é nele que o filme concentra alguns gestos – digamos assim – revolucionários. No entanto, há um gesto de Bento XVI talvez ainda mais revolucionário e que o filme não explora: a sua renúncia – que é também dessacralização – ao papado. Esse gesto garantiu aos católicos a possibilidade de terem no seu seio dois Papas vivos: um emérito e o outro em pleno exercício de funções. Apesar do título do filme ser Dois Papas, ele centra-se, sobretudo, no percurso de vida do actual pontífice, dando pouca atenção ao percurso de Ratzinger. Digamos que o filme lança mão do conhecido recurso psicológico da empatia, com inclinação evidente para o Papa Francisco. Pena não ter sido capaz de nos fazer simpatizar com um Papa sem apoucar a imagem daquele que o precedeu.
Dito isto, vamos ao que mais apreciei neste filme. O encontro ficcionado entre os dois Papas serve de pretexto para discutir os problemas que abalam a Igreja Católica: a pedofilia, o celibato dos padres (S. Pedro era casado e a exigência do celibato só acontece no século XII) e a ordenação das mulheres, entre outros. Discordâncias, sim, mas respeitosas. Para lá da excelência dos actores e da beleza da fotografia e dos cenários, retive a riqueza de algumas expressões, como esta: “A confissão lava a alma ao pecador, não ajuda a vítima”. E retive sobretudo os diálogos bem humorados, com algumas ampolas de riso à mistura, como este em que Bergoglio pergunta a Ratzinger:
– Sabe a história dos dois seminaristas que gostavam de fumar? O primeiro dirige-se ao seu guia espiritual e pergunta:
– Padre, é permitido fumar durante a oração?
– Não, claro que não.
O segundo, que era jesuíta, disse ao amigo:
– Irmão, estás a fazer a pergunta errada. Então, dirige-se ao guia espiritual e pergunta:
– Padre, é permitido orar enquanto se fuma?
– Sim, orar e fumar ao mesmo tempo.
(comentário de Ratzinger: é uma anedota tonta. Orar e fumar ao mesmo tempo é impossível).