1 – Da importância dos estudos regionais
O território de Portugal continental é rico em contrastes regionais, ao nível geográfico, do povoamento, da economia, da sociedade ou mesmo dos comportamentos culturais. O mundo em que vivemos nada tem a ver com o Portugal histórico e tradicional de algumas décadas atrás: houve alterações demográficas significativas, alargamento da esperança média de vida, agravamento do desemprego (de curta e longa duração), crescimento exponencial de gastos com a saúde, o alastrar de novas formas de pobreza e exclusão social, o flagelo da toxicodependência e da sida, os novos problemas associados à criminalidade e à insegurança, enfraquecimento dos laços familiares, a emergência de novos grupos de pressão (ambientalistas, consumidores) com os quais o poder político é obrigado a negociar e a estabelecer consensos.
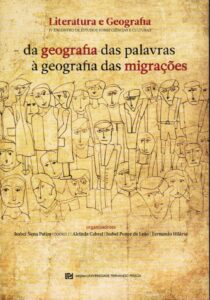 Face a mutações tecnológicas constantes, a sistemas financeiros extremamente voláteis, mercados hipercompetitivos e redes empresariais globais, o Estado vê-se obrigado “a proteger empresas e sectores produtivos ameaçados, corrigir assimetrias territoriais decorrentes da lógica de mercado, conter agressões ambientais, etc.”. Vivemos em sociedades de risco, onde “se multiplicam vulnerabilidades e emergem novas desigualdades e onde a incerteza e o medo em relação ao futuro se transformam em traço ideológico de natureza estrutural” (Pinto, 2002). Do que se trata, afinal, é de conseguir responder às angústias que resultam de uma sociedade de alto risco. Os sentimentos crescentes de insegurança concorrem para a descredibilização do sistema político e das respostas que estão ao seu alcance.
Face a mutações tecnológicas constantes, a sistemas financeiros extremamente voláteis, mercados hipercompetitivos e redes empresariais globais, o Estado vê-se obrigado “a proteger empresas e sectores produtivos ameaçados, corrigir assimetrias territoriais decorrentes da lógica de mercado, conter agressões ambientais, etc.”. Vivemos em sociedades de risco, onde “se multiplicam vulnerabilidades e emergem novas desigualdades e onde a incerteza e o medo em relação ao futuro se transformam em traço ideológico de natureza estrutural” (Pinto, 2002). Do que se trata, afinal, é de conseguir responder às angústias que resultam de uma sociedade de alto risco. Os sentimentos crescentes de insegurança concorrem para a descredibilização do sistema político e das respostas que estão ao seu alcance.
Se esta evolução da sociedade portuguesa contemporânea é assim tão perceptível e óbvia, parece assistir-nos toda a legitimidade para, no mínimo, reflectir na redefinição do seu território. Como é sabido, o Código Administrativo de 1936 dividiu o País em 13 regiões geográficas, espaços que foram demarcados em função das características físicas e humanas que os individualizavam e distinguiam. Esse mapa, apesar das grandes transformações entretanto ocorridas, tem vigorado até hoje, embora não possamos falar de divisões administrativas. Com fins administrativos foram criados e continuam a existir, ainda, os distritos.
O esbatimento acelerado das identidades num contexto mundial de globalização, o choque cada vez mais agudo entre o velho e o novo, entre o passado e o futuro, ou entre a tradição e a renovação, tornam cada vez mais premente a necessidade de incrementar os estudos regionais. Tarefa com muitos escolhos, pois não parece fácil isolar o que se encontra em crescente processo de integração, ou diferenciar o que está submetido a processos de homogeneização. Mas tarefa tanto mais necessária quanto é certo que a região “é menos nitidamente conhecida e percepcionada do que os lugares do quotidiano ou os espaços sociais da familiaridade” (Frémont 1980:167). O caso português é disso bem elucidativo: abundam os estudos locais, as revistas camarárias, as monografias – históricas, arqueológicas, etnográficas – que deixam no olvido a dimensão regional; os estudos correntes ora incidem a nível local e quando muito concelhio, ora no todo nacional, pouco se preocupando com o facto de a dimensão nacional requerer “a regional para se iluminar e articular num todo coerente, acessível ao conhecimento” (Mota 1998:100). Um estudo das relações gerais do território português não ficaria completo “sem se esboçarem as grandes linhas de descrição regional, indispensável para a compreensão da sua vigorosa originalidade e dos traços essenciais da economia nacional” (Ribeiro 1986:141). Eis a importância do regional enquanto escala de abordagem e espaço culturalmente significativo, dotado de valor próprio e não desprezável.
Não se veja nesta opção por uma visão regional qualquer intenção de retirar importância aos movimentos socioculturais em torno da chamada província. Quando muito, para lá do alcance disciplinar, e de se poder ver nos estudos locais instrumentos de interesse para o inventário do País, pode reflectir-se sobre a sua verdadeira utilidade pública. Expliquemo-nos: muitos destes trabalhos têm servido ao longo do tempo para veicular, de forma explícita ou um tanto velada, bairrismos e reivindicações locais, como se o horizonte local representasse o máximo de consciência possível dos autores desses trabalhos. Ora o que parece estar em jogo é a necessidade de se ultrapassar a simples apologia das virtudes locais. Dito de outro modo, ultrapassar a mera reivindicação regionalista. Estimular a reivindicação regional significa “ver” e planificar para lá dos interesses e da vontade das elites locais, não reduzir a história e a geografia desses lugares ao folclorismo pitoresco, ou ao eruditismo balofo, conferindo importância acrescida a entidades com competência cultural específica, às maneiras de sentir, pensar e agir das populações em estudos integradores ou de síntese – sobre um determinado espaço enquanto condensação de múltiplas manifestações sociais – que nos devolvam, com nitidez, a coesão e a coerência interna de uma dada região. Só dessa forma nos será revelada uma região com contornos específicos e não reprodutíveis em qualquer outro espaço geográfico.
A análise regional nada tem a ver com formulações localistas redutoras nem pode confundir-se com a soma do estudo analítico e autónomo dos locais que a integram. Uma consciência regional deve traduzir-se naquilo que é específico em determinada região e não apenas em qualquer das localidades que a compõem. O regional, enquanto um todo, é mais que a soma das partes, ao contrário do que supõe a visão organicista da sociedade. No plano cultural, por exemplo, há concelhos que vivem um pouco voltados para si próprios, como se a porosidade das fronteiras não constituísse um apelo ao todo regional. O conhecimento do mosaico regional não se faz por simples adição de estudos isolados, de abordagens locais independentes das demais. Nele encaixam sempre novas peças, de índole geográfica, humana, histórica ou cultural, que projectam uma nova luz na tela dos conhecimentos que já existem. O conhecimento do regional enquanto espaço integrado pressupõe “depurar” os estudos que para ele concorrem da capa regionalista, de uma certa mentalidade propensa à valorização e até à apologia do “único”, do “só nosso”, elementos que usualmente salpicam a valoração constante do lugar matricial. Ao invés, deve tentar incorporar “as dimensões económica, política e cultural, numa dialéctica em que o espaço regional é ao mesmo tempo um espaço de reprodução económica, locus de representação política (efectiva ou almejada) e um espaço de identidade cultural” (Haesbaert 1999:29).
Para se traçar uma identidade regional há que atender a elementos culturais específicos, à convicção de pertença a um grupo social que se traduz na adesão sentimental a uma comunidade geográfica e cultural. O que confere a uma determinada realidade a sua identidade própria é a representação que dela têm os que a ela aderem espontaneamente. Mais do que a identidade em si mesma, é a consciência de si própria (a sua representação mental) e sobretudo a sua afirmação que são relevantes. Isto é: os critérios objectivos de qualquer identidade (por exemplo a língua, o dialecto ou o sotaque) “são objecto de representações mentais, quer dizer, de actos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de reconhecimento […] e de representações objectais em coisas (emblemas, bandeiras, insígnias, etc.) ou em actos […] que têm em vista determinar a representação mental que os outros podem ter destas propriedades e dos seus portadores” (Bourdieu 1989:112).
O renovado interesse pela questão regional não é apenas académico. Tem a ver com a emergência e proliferação de regionalismos, identidades regionais, novas e velhas desigualdades a nível global ou mesmo intranacional. Em contraponto com a homogeneização globalizadora, assistimos a uma “permanente reconstrução da heterogeneidade e da fragmentação, [a um] certo retorno às singularidades e ao específico […] em correntes como o pós-modernismo e o pós-estruturalismo, denominações que evocam a crise social e de paradigmas em que estamos mergulhados” (Haesbaert 1999:16). Também os media revalorizam o “regional”, embora o envolvam ainda em grande sincretismo. Para uns, a valorização do regional está inscrita no próprio seio da globalização dos mercados e das comunicações (sustentam que a televisão caminha no sentido da regionalização, como acontece nos Estados Unidos, onde há canais que dão prioridade à cobertura dos problemas que afectam as comunidades locais); outros falam de regionalização como contraponto à globalização, entendida aqui como criação de grandes uniões comerciais, sem se darem conta que os mercados comuns já estão “inseridos numa articulação crescente aos circuitos globais da economia capitalista” (Haesbaert 1999:16). De certo modo, ao implicarem uma centralização crescente, os processos de globalização contêm igualmente “soluções que apelam à descentralização, à diversidade local, à informalidade, à volatilidade” (Ferrão, 1997:19).
2 – Armadilhas da análise regional
Enquanto objecto de análise, a região é um espaço que apresenta múltiplas dimensões e a delimitação das suas fronteiras pode obedecer a necessidades políticas, culturais ou administrativas, sendo que o critério a adoptar depende sempre dos objectivos prosseguidos. Se adoptarmos o critério da polaridade, analisamos a região enquanto área de influência polarizada por uma capital ou um lugar central; se optarmos pelo da homogeneidade territorial, estamos a dar ênfase à história, à cultura ou aos factores linguísticos que permitem caracterizá-la; se a abordagem incide na definição das fronteiras administrativas ou políticas, o que procuramos desenhar é a região plano (Polèse 1998:136-7). Eis apenas alguns exemplos, que não esgotam as possibilidades de definição ou identificação das regiões. De resto, a crescente incidência dos processos de globalização torna a escala geográfica de referência do nível regional – e também do central e do local – cada vez mais alargada. A União Europeia é disso exemplo paradigmático: “com a consolidação de um novo nível central – o da União – o nível nacional (Estados membros) tende a tornar-se ‘regional’, o nível efectivamente regional de cada um dos Estados membros corre o risco de se transformar em ‘local’ e, por último, o nível local perde visibilidade e, em termos relativos, protagonismo” (Ferrão 1997:18).
A operacionalização da análise regional enfrenta, pois, várias dificuldades. Escolher critérios para delimitar uma área de estudo envolve sempre alguma subjectividade. Por isso se requer uma explicação prévia dos parâmetros escolhidos, que necessariamente condicionam a investigação. Se por exemplo enveredarmos por uma análise económica, e tendo em conta que uma região não tem fronteiras nesse sentido preciso do termo, é importante distinguir entre modelos “cujo quadro de análise é predominantemente estático e modelos que procuram integrar elementos dinâmicos” (Polèse 1998:135).
Como a fronteira entre modelos estáticos e dinâmicos não é estanque, convém evitar o risco de aplicar ao real limites inexistentes e assim criar falsas unidades de análise. Vejamos um exemplo: a aplicação de “limites lineares” a uma realidade cultural de contornos pouco definidos é sempre problemática, pois pode espartilhar aquilo que já é intrinsecamente fluido. Mesmo que nos confinemos a um estudo puramente geográfico, os limites lineares só devem ser utilizados quando têm por base o solo ou na passagem de uma forma de relevo para outra (Ribeiro, 1987:67). A delimitação começa por ser geográfica, embora existam regiões nas quais não se sabe com segurança onde começam e acabam os seus limites físicos. Quando surgem hesitações quanto à definição dos limites de uma região, dificilmente se gera o consenso quanto a outros particularismos que a sintetizem.
Também a aspiração à universalidade se tem mostrado inimiga da análise regional: ao esquecer que todo o universal tem o seu chão, remete os estudos regionais para um lugar subalterno no quadro mais geral da cultura, sem se dar conta que a genuína universalidade não dispensa as marcas de tempo e de lugar. Uma obra que é digna desse nome “não dilui na vaguidade de intenção universalista as suas marcas de origem”, na exacta medida em que no universo da cultura estão presentes, necessariamente, “todas as culturas nacionais, regionais e locais existentes, cada uma delas imbuída da sua própria especificidade, isto é, com os respectivos traços de originalidade inconfundível e vazada numa peculiar expressão linguística” (Mota 1993:16).
Outra preocupação a ter em conta diz respeito à forma como se recupera para a escrita a linguagem popular. Sendo genuinamente popular, essa linguagem pode não revelar a presença nítida de uma qualquer região. Vejamos um exemplo: a descrição, numa obra literária, de certas fainas como as vindimas ou as desfolhadas, nada tem de traço identitário, pois estamos a falar de trabalhos rurais que podem ser observados em diferentes regiões. Convém sempre confirmar se as descrições de costumes, a gastronomia, os jogos tradicionais, a literatura oral, certos vocábulos ou outros elementos etnográficos são realmente específicos de uma região ou podem repetir-se noutras.
3 – Sobre o conceito de região
De que falamos, quando falamos de região? Em que medida é que um determinado tipo de análise – geográfica, económica ou cultural – nos coloca problemas particulares? Que factores pesam mais no desenvolvimento das regiões? Existem muitas interpretações, pois não é fácil definir um conceito que é polissémico e por vezes ambíguo. Bastaria referir que para muitos geógrafos nem todo o recorte coerente do espaço geográfico é sinónimo de região. É preciso encontrar alternativas mais ricas ao uso banal que identifica região com uma certa “extensão de espaço” ou com uma “área”. Autores clássicos como Vidal de La Blache, a quem devemos a paternidade da noção de região em Geografia, enfatizaram a “diferenciação de áreas” como metodologia essencial para o trabalho do geógrafo. O conceito varia de disciplina para disciplina. A ciência política, por exemplo, joga com a ambiguidade da noção de região, a qual “tanto pode ser aplicada a uma fracção dum Estado ou duma nação, como a um agrupamento de Estados ou de nações, próximos pelas suas características económicas, políticas ou culturais e, geralmente, pela sua situação geográfica” (Roncayolo 1986:161).
A geografia procura associar região a um nível intermédio cuja originalidade tende a afirmar: “De uma maneira geral, a região apresenta-se como um espaço médio, menos extenso do que a nação ou o grande espaço de civilização, mais vasto do que o espaço social de um grupo e a fortiori dum lugar” (Frémont 1980:167). Esta definição de quem concebe a região, acima de tudo, como espaço vivido, continua a não ser clarificadora, embora o apelo ao “vivido” abra já a porta à discussão de problemas tão importantes como a questão da identidade. Só que deixa de fora outras questões essenciais como a dimensão, os limites ou o nível que implica a palavra região. Na verdade, a região tem sido objecto de discussão entre geógrafos, historiadores, etnólogos, economistas e sociólogos, sendo que os primeiros, “por terem que ver com o espaço, aspiram ao monopólio da definição legítima” (Bourdieu 1989:108). Só que, embora os inquéritos regionais dos geógrafos se revelem extremamente minuciosos e aprofundados sobre um determinado espaço, não permitem muitas vezes compreender “os grandes fenómenos que levam ao progresso ou ao declínio das regiões consideradas”. Quando dá ênfase aos fenómenos físicos, o geógrafo “limita-se frequentemente à análise de conteúdo do espaço [e] olha muito pouco para além das fronteiras políticas ou administrativas da região” (Bourdieu 1989:108-9). Ora a fronteira pode assumir uma dupla dimensão: “a que se traduz na definição de um limite de vizinhança entre identidades diferenciadas e a que salvaguarda um espaço de intervenção autónoma de cada identidade em relação aos interesses próprios” (Marchueta 2002:9).
Não sendo o escopo deste trabalho aprofundar os debates que enformam a ideia de região, o que passaria por clarificar noções como região “natural”, “homogénea”, “polarizada”, “histórica”, “geográfica”, “económica”, “étnica” ou “cultural” – qualquer delas longe de representar, per se, a única forma de divisão territorial – convém esclarecer alguns sentidos que se atribuem ao vocábulo. Ao reflectir sobre os fundamentos da divisão regional, Orlando Ribeiro fala em “região geográfica”, isto é, uma divisão territorial definida por particularismos físicos naturais (clima, relevo, natureza do solo) e humanos (estilo de povoamento e de aproveitamento do terreno) que nos dão o sentimento de não sairmos da mesma terra (Ribeiro 1986:140). Também a geógrafa Suzanne Daveau se desloca para o domínio da geografia regional através da ponderação conjunta dos elementos físicos e humanos. A seu ver, um estudo de geografia regional “pressupõe o tratamento equilibrado das matérias de geografia física e de geografia humana, sem que haja o predomínio sensível desta última, que tinha sido preconizado por influentes geógrafos portugueses, designadamente por Orlando Ribeiro” (Medeiros 1997:60). O espaço geográfico pode ainda ser visto como o resultado “da projecção do sistema sociocultural sobre o sistema ecológico, de uma projecção activa que o constrói conforme as exigências do objectivo a atingir” (Isnard, 1992).
Tal significa que na explicação das divisões territoriais é importante integrar e combinar factores naturais, humanos e culturais. Não é apenas a acção da natureza que permite moldar uma determinada região; é sobretudo a intervenção do homem que configura e risca paisagens específicas que a caracterizam. Se “cada Região é um ser único, a resultante de combinações complexas que se não repetem integralmente noutro lugar” (Ribeiro, 1987:7), ela não pode ser vista como entidade fechada, avessa a qualquer tipo de hibridismo, incapaz de se deixar influenciar ou “contaminar” por fronteiras, relações de proximidade ou vizinhança, trocas cada vez mais intensas e complexas de bens ou ideias. A região não pode ser senão o resultado de um sistema de relações em que “a unidade dos traços culturais, a ligação a determinadas práticas e representações são o fundamento da homogeneidade regional” (Roncayolo 1986:169). Cada região conterá aspectos e elementos que a caracterizam, a identificam e a distinguem das demais (a língua – enquanto elemento unificador e identificador de um povo – os dialectos locais, o folclore ou a literatura popular, entre outros).
4 – Identidade versus fronteira
Quando se vive numa comunidade fechada, a questão da identidade nem sequer se coloca. Ela só é perceptível num contexto de confronto ou comparação com outras comunidades. Então sim, emerge o sentimento de diferença, que tanto pode afirmar-se de forma positiva ou meramente ressentida (quando o confronto se dá a partir do mais pequeno para o maior, embora não se possa considerar como inferior aquilo que apenas é diferente). É no confronto com outra cultura que uma comunidade se apercebe da diferença entre essa e aquela a que pertence. A cultura, sendo uma manifestação do mundo das ideias que produz factos culturais concretos, é também um instrumento de comunicação e “um sistema de organização e orientação social de um grupo determinado”, podendo igualmente converter-se em “elemento dinâmico de construção e diferenciação” (Marchueta 2002:81). Mas identidade e características culturais de uma comunidade são coisas distintas: estas são do domínio da psicologia e da antropologia, envolvem a chamada autognose, termo que Eduardo Lourenço utiliza em O Labirinto da Saudade e que remete para o «autoconhecimento que um grupo tem ou procura ter de si próprio» (Almeida 1995: 65-90). Já a identidade pertence ao domínio dos afectos.
Parece claro que conceber a região como um todo obriga a incluir nela a dimensão cultural. Aqui chegados, cabe perguntar: porquê assumir uma região como referência cultural? A resposta parece óbvia: porque uma região não se define apenas como a resultante de uma “diferenciação de áreas”, como “individualidade” ou “personalidade geográfica” (diferentes designações que apontam para a importância dada ao específico, ao singular), mas sobretudo como uma construção intelectual, podendo a sua delimitação variar de acordo com os objectivos de quem a investiga; e porque muitas vezes, como uma região não vive sem cultura, é por aí que ela se torna reconhecível entre outras regiões vizinhas, não bastando, para delas se diferenciar, a natureza física dos solos, do relevo ou do clima. Nestes casos a contiguidade geográfica é um empecilho à diferenciação. A referência cultural emerge assim como a melhor via para combater a uniformidade ou a manipulação, o nivelamento dos gostos, dos usos e costumes, a diluição dos valores em que entronca a sua matriz identitária. Funciona como uma espécie de apólice de seguro contra “o esmagamento da diversidade no molde unificador da aldeia global” (Mota, 1993:13).
Se o conceito de região suscita problemas de análise, também o de “identidade”, graças à riqueza das suas conotações, é ambíguo e requer clarificação. E quando se fala em identidade cultural a complexidade é ainda maior. A que nos referimos quando falamos, em abstracto, de cultura? À cultura erudita ou à popular? À religiosa ou à profana? E que queremos dizer quando usamos a expressão cultura regional, correndo o sério risco de o “regional” se confundir perigosamente com regionalismo ou provincianismo? A noção de identidade, sobretudo ao nível da sua formulação teórica, é difícil de circunscrever. Pode ser analisada em diferentes perspectivas e pode variar ao longo do tempo, à medida que irrompem novos traços identitários que interagem com a anterior realidade sedimentada. Isso não significa que a deixemos de utilizar. Também não há acordo quanto ao conceito de “inteligência” e não é por isso que o descartamos. Ora como os debates sobre as identidades nacionais e culturais se têm intensificado nos últimos anos, importa estabelecer um consenso mínimo sobre o conceito de identidade. Sendo diferença, a identidade não implica necessariamente oposição nem é anti-universal: os sentimentos de diferença ou de pertença não podem constituir obstáculo à percepção ou à fruição do belo que se espraia para lá das fronteiras em que habitamos. Aliás, a fronteira (no império romano tudo o que estava para lá dos seus limites geográficos era considerado “bárbaro”, ou hostil…) longe de causar estranheza, deve ser cada vez mais lugar de cooperação e enriquecimento e não de exclusão. Dos diferentes tipos de fronteira (política, ideológica, económica ou demográfica, entre outras) a cultural, cada vez mais fluida, porosa e flutuante em resultado dos progressos tecnológicos, é aquela que, ao definir melhor uma dada comunidade – por referência ou oposição a outra – “melhor assume uma função dinâmica de contacto e de inter-relacionamento, permeável que sempre foi ao intercâmbio de pessoas, de bens culturais e de ideias” (Marchueta 2002:81-2).
5 – Construção da identidade: memória, tradição, inovação
Apesar de todas as diferenças de opinião, é possível detectar alguns elementos que devem ser integrados no processo de construção da identidade individual ou colectiva: a memória, a consciência e a continuidade [Almeida 1995:65-90]. É conhecido o relativo consenso acerca do papel desempenhado pela anamnese (procura activa de recordações) na construção de identidades pessoais e sociais, e pela metamemória, conceito que define as representações que o indivíduo faz de tudo aquilo que viveu (Catroga 2001:15). A memória histórica constitui, assim, um factor de identificação humana, revelando-nos a forma como os vários grupos constroem e transmitem o passado comum. Funciona como pano de fundo a partir do qual se podem situar e compreender as mais diversas experiências do homem. Os rituais e as cerimónias comemorativas, enquanto ritos colectivos de comemoração, reforçam a coesão social e a identidade e podem ser vistos como exemplos de “actos de transferência que tornam possível recordar em conjunto” (Connerton, 1993:47). Certas comemorações, no entanto, estão a transformar-se em cerimónias cada vez mais “frias”, vítimas de usos e abusos da memória colocada ao serviço de manipulações ideológicas ou até de uma certa mercantilização do culto do passado. Esta “construção” ou arranjo premeditado da memória para servir fins que nada têm a ver com a fidelidade ao passado, levou Walter Benjamin a escrever que existem maneiras de honrar esse passado que fazem dele uma herança mais funesta do que o seu puro e simples desaparecimento (Catroga, 2001:34).
As regiões e as comunidades precisam da memória histórica para promover a abertura e o enriquecimento com outras regiões, que conhecem mas muitas vezes não são capazes de compreender. Memória e identidade cultural reforçam-se mutuamente, permitem saber de onde vimos, identificar as raízes, e é na memória social que as comunidades se identificam e (re)encontram. Mas a memória, sujeita à corrupção do tempo, é sempre selectiva, nunca é uma voz inteiramente verdadeira do pretérito, pois escolher implica esquecer, silenciar, excluir. A memória não regista tudo aquilo que cada indivíduo vivenciou. Há, nela, muito de “retenção afectiva e ‘quente’ do passado […] e os seus elos com o esquecimento obrigam a que somente se possa recordar partes do que já passou” (Catroga, 2001:20-21).
Por outro lado, a memória histórica, enquanto factor de identificação humana, não é completamente estática, na medida em que procura conjugar o que a tradição instituiu com as inovações que o presente lega ao futuro. Convém, por isso, recusar as identidades fechadas, rejeitar a rasura ou o rompimento absoluto com o passado; desconfiar do passado que se mostra incapaz de evoluir e do futuro que julga poder evoluir em ruptura completa com o passado. Não se pode reduzir a tradição a um factor de estagnação e retrocesso, mas sim encará-la no seu sentido mais dinâmico e activo. O culto excessivo da tradição e do passado tende a criar nos espíritos um pesado imobilismo, contrário a factores de mudança e transformação da ordem estabelecida.
O antropólogo Marc Augé observa que “a questão da identidade e da pessoa estão verdadeiramente no centro das interrogações contemporâneas” afirmando também que “a realidade íntima da pessoa individual, a identidade global do grupo em que se inscreve e a identidade particular dos seus descendentes […] são pensados em continuidade, sendo o indivíduo e o grupo de indivíduos apenas identificáveis no plural, e a identidade apreendida apenas por relação com os outros” (Augé, 1990: 184s).
As identidades só fazem sentido quando abertas ao diálogo entre tradição (transmissão, dádiva, herança que recebemos das gerações que nos precederam) e modernidade (o que se acrescenta à herança recebida, o que criamos de novo, inovando e acrescentando). Convém referir que não há tradição intacta e que mesmo aquilo que nela sobrevive deve ser objecto de discussão. Tudo o que a tradição nos lega (crenças, instituições) passa a estar ao serviço de condições bem diferentes daquelas em que foram criadas. Mantendo idêntica expressão, apresentam-se já com conteúdo diferente, enquadradas em novas condições históricas e sociais e sujeitas ao confronto com novas exigências. Mais importante que a verdade ou falsidade de certas tradições – o milagre de Ourique, ou as profecias do Bandarra – importa perceber por que é que elas persistem ao longo dos séculos.
Uma identidade não se restringe à soma de tradições recuperadas do passado e fechadas sobre si próprias; todos os contributos externos que as enriquecem, sem as descaracterizar, são importantes. Um projecto cultural inovador não estabelece apenas pontes com o passado: recupera-o para um futuro que já não será igual, mas necessariamente metamorfoseado. A História renova-se, não se repete.
6 – Literatura e identidade regional
Se a identidade é, de algum modo, um produto social em constante devir, a consciência da identidade cultural de uma região é normalmente perceptível na sua literatura, nas suas manifestações artísticas ou na sua reflexão antropológica, sociológica ou histórica. Qualquer região, consubstanciada originariamente em elementos naturais e humanos, pode reforçar a identidade se for capaz acolher no seu seio a dimensão cultural.
A literatura regionalista, ao plasmar os motivos locais – lendas, costumes, folclore, romarias – “presta um bom serviço à divulgação e afirmação da identidade regional” (Carvalho, 2000:137). É o que acontece com a chamada “literatura popular”, ou o seu ramo usualmente conhecido por “literatura oral” – onde cabem a poesia cantada ou escrita, as quadras natalícias ou de pastoras e reis, provérbios e adivinhas, os descantes, as rezas e crendices que misturam mesinhas caseiras e superstição – a qual padece, infelizmente, do mesmo esquecimento, incúria e desconsideração que se abatem sobre outras importantes manifestações de sensibilidade local ou regional. Como se tudo isso fosse subliteratura ou antiliteratura, não merecedor de estudo e análise. Não será este desprezo ostensivo pela cultura popular uma forma de acentuar ainda mais as distâncias entre povo e elites? É sabido que as elites de países até há pouco tempo marcadamente agrícolas revelam “uma certa indiferença, quando não desprezo, pelas formas de vida rústica” e que alguns países da Europa, só quando se aperceberam que esse mundo tradicional se estava a perder irremediavelmente, é que passaram a sentir “uma saudade imensa por esse passado e rapidamente começaram a coleccionar tudo o que restava e criaram museus, onde esse património do passado ficou defendido e ao dispor das gerações futuras” (Dias 1982:46). Será preciso lembrar que sem um estudo sobre a cultura popular no Estado Novo – na sua versão ruralista e conservadora – não teríamos hoje a prova de que ela foi um dos alicerces mais importantes de legitimação política e de consenso social em torno desse regime? (Melo 2001:44-45).
Sabe-se como é ilusória a pretensa homogeneidade linguística e social de Portugal, argumento tantas vezes esgrimido contra a existência de uma escola regionalista no nosso País. Para o provar bastam algumas obras de Aquilino Ribeiro, nas quais distingue, entre os demais tipos humanos de Portugal, o homem da Beira (Verdelho 1982: 31, nota 7). A utilização de particularismos linguísticos de uma região como matéria ficcional ajuda a traçar uma visão diferenciadora do espaço português e autoriza-nos a falar numa literatura regionalista, apesar de o regionalismo se fazer sentir em domínios vários e não apenas na literatura. Deste ponto de vista, o conceito de regionalismo – enquanto movimento definido por um conjunto de ideais de defesa e valorização das regiões – pode também ser entendido como tendência literária em que o espaço regional adquire particular importância.
Há regiões que estão na literatura, mas muitas vezes essa expressão literária não se manifesta com suficiente nitidez. Podemos encontrar dois registos distintos da região em termos literários: num deles, a região é simples presença no texto, assinalada pelo registo toponímico ou por um enquadramento geográfico indefinido, não apresentando a sua realidade literária valor identitário; no outro, os elementos identificadores de uma região estão inscritos no texto, sente-se-lhe o pulsar no corpus literário. De facto, para uma região estar dentro da literatura, “tem de constituir a sua força determinante, o seu sujeito. Quando acontece isto, é a região que fala, que se move, que respira. Mas isto é uma situação extrema a que, necessariamente, terá de corresponder uma situação oposta. Neste último caso, a região não passa de um simples effet de réel, como lhe chamaria Roland Barthes, um simples truque de ilusão realista”(Correia 1990:25).
Reconhecidamente, muitas obras se deixaram impregnar por certas regiões. É isso que nos permite falar de um Aquilino “beirão serrano”, de um Camilo “minhoto”, um Eça “lisboeta”, um Nemésio “açoriano”, um Carlos de Oliveira “gandarês”, entre outros (Mota 1993:14). Os estudos regionais debruçam-se sobre essas obras, pois quem se preocupa com a sua identidade cultural tende a referir figuras destacadas do passado, bem como as obras que produziram e espelham essa identidade.
Curiosamente Aquilino Ribeiro, escritor em cuja ficção se reconhece um regionalismo ancorado no apego à terra campesina e às suas gentes – embora sem perder universalidade nos seus caracteres e descrições – chegou a duvidar da existência de uma literatura regionalista portuguesa (Verdelho: 1982:6). Mas isso não o impediu de reconhecer, quando por volta de 1920 a generalidade dos escritores portugueses atribuía a maior importância ao regionalismo, o seu real valor como contraponto aos “danos provocados pela sujeição de alguns, nomeadamente os realistas, a literaturas estrangeiras, sobretudo à literatura francesa” (Verdelho 1986:25). Num inquérito efectuado pelo Diário de Notícias sobre literatura regionalista, Aquilino referiu, em entrevista de 14 de Maio de 1920: “Uma literatura digna deste nome exige uma língua própria, bem ela, e não uma língua manta de trapos. A língua fê-la o povo. Quando os eruditos a levaram a facetar ao seu torno mecânico já ela estava feita. Sendo agora preciso depurá-la, lógico se torna que se vá estudar no povo, e o povo, aqui, é a população estável e resistente das províncias” (Ribeiro 1991:19).
Acontece que na estrutura ficcional de certas histórias, centradas em regra numa realidade social rural, o rigor literário é muitas vezes levado a preciosismos estilísticos e a extremos linguísticos ou expressivos que são registos de um falar regional que o escritor procura enfatizar. Embora evidenciando um “modo de dizer” que é único e singular, essa preocupação excessiva em valorizar a linguagem como matéria de ficção literária pode conduzir à submissão a um léxico, a páginas sem dúvida vivas e coloridas mas escravizadas ao pitoresco aldeão. Amarrada a tais cânones, essa literatura regional, apesar de se deleitar, como acontecia com Aquilino Ribeiro, “no estudo das almas serranas, na etnologia dos seus costumes primitivos ou tradicionais [não desenvolve] o social-vivo das suas existências” (Silva 1948:311). Este tipo de crítica anunciava já o despontar de uma nova literatura regional apostada no combate a uma certa aridez social com que o romance regionalista se debatia. Essa nova estrutura romanesca passava a espelhar-se em obras onde “a paisagem mirra, cresce o homem”, em que o escritor devia renunciar a deixar-se escravizar pelo estilo, mergulhando “no convívio com as realidades do seu tempo”, capaz de continuar a talhar a figura pitoresca de um tipo humano, mas sem esquecer ou desprezar “as condições em que se desenvolve a vida dos que trabalham” (Silva, 1948: 311s). Era o tempo do neo-realismo literário, dos Gaibéus de Redol, de Vagão J. de Vergílio Ferreira, dos romances da gândara de Carlos de Oliveira ou dos contos alentejanos de Manuel da Fonseca. Uma geração que se considerava intérprete e consciência da sociedade do seu tempo, mas cujos valores estéticos viriam também a estar envoltos em polémica e a ser fortemente contestados.
É certo que as obras ditas regionalistas apresentam um nível estético muito diferenciado e “divergem também pela importância que concedem a cada região, particularmente em relação ao entrecho e às características das personagens”. Mas mais que as manifestações diferenciadas de literatura regionalista, o que aqui verdadeiramente se pretende realçar é a importância da região enquanto “elemento componente da obra, quer pelo espaço e relevo que lhe é dado, quer pela evidente implicação que tem na acção e no carácter das personagens” (Verdelho, 1982:29). À medida que as identidades individuais e colectivas se forem esbatendo por força dos processos de globalização, o que foi possível fixar enquanto presença das realidades regionais nas obras literárias ganhará uma nova dimensão: a de uma espécie de relicário da memória, onde poderemos então matar saudades de mundividências que já não há.
Em síntese, é nosso entendimento que na abordagem dos estudos regionais, a par da análise aos elementos físicos, geográficos ou económicos de uma dada região, a dimensão cultural não deve ser negligenciada. E, dentro dela, a literatura de cariz regional pode constituir-se como importante elemento identificador e, ao mesmo tempo, diferenciador de uma região relativamente a outras. Na verdade, quando uma região firma a sua identidade na literatura, “deixa de ser conhecida unicamente como entidade político-administrativa e ganha uma expressão cultural que a promove e distingue como ser geográfico dotado de traços específicos inconfundíveis” (Carvalho, 2000:137).
Têm a palavra os escritores, que no rude ofício da prosa ou da poesia são a um tempo regionais e universais, quando nos dão a conhecer as terras e as gentes de uma determinada zona etnográfica, assumindo-se como “vedores das correntes mais profundas da autenticidade popular” (Mancelos, 1997:34).
(Texto publicado em Literatura e Geografia. IV Encontro de Estudos sobre Ciências e Culturas – da geografia das palavras à geografia das migrações. Porto, Edições Universidade Fernando Pessoa, 2009, pp. 505-522).
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Onésimo Teotónio, «Em busca de clarificação do conceito de identidade cultural», in Actas do Congresso, I Centenário da Autonomia dos Açores, vol. 2, A Autonomia no Plano Sociocultural (Ponta Delgada: Jornadas de Cultura, 1995).
AUGÉ, Marc, “O homem e os homens: A crise do sentido no mundo contemporâneo”, in Fernando Gil (org.), Balanço do Século. Ciclo de conferências promovido pelo Presidente da República (Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990).
BOURDIEU, Pierre, O Poder Simbólico, Lisboa, Difel, 1989.
CARVALHO, António Manuel de Melo Breda, Identidades Regionais. Acúrcio Correia da Silva e a Bairrada. Dissertação de Mestrado em Estudos Portugueses, Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e Culturas, 2000 (policopiado).
CATROGA, Fernando, Memória, História e Historiografia, Coimbra, Quarteto, Editora, 2001.
CONNERTON, Paul, Como as Sociedades Recordam, Oeiras, Celta Editora, 1993.
CORREIA, Joaquim, “No lançamento de Letras Bairradinas”, Boletim ADERAV, Aveiro, n.º 18, 1990.
DIAS, Jorge, “A Etnografia como Ciência”, Estudos de Antropologia, vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982.
FERRÃO, João, “Regiões e inter-regionalidade numa Europa em construção”, in Poder Central, Poder Regional, Poder Local. Uma perspectiva histórica, Lisboa, Edições Cosmos, 1997.
FRÉMONT, Armand, A Região, Espaço Vivido. Coimbra, Livraria Almedina, 1980.
HAESBAERT, Rogério, “Região, Diversidade Territorial e Globalização”, GEOgraphia – Ano 1, N.º 1, 1999.
ISNARD, Hildebert, O Espaço Geográfico, Coimbra, Livraria Almedina, 1992.
MANCELOS, João de “O Escritor Regional: Nos subúrbios da periferia”, in Aveiro. Boletim Municipal, Ano XV, N.º 29-30, Dezembro 1997.
MARCHUETA, Maria Regina, O Conceito de Fronteira na Época da Mundialização, Lisboa, Edições Cosmos/Instituto da Defesa Nacional, 1992.
MARTINS, Moisés de Lemos, Para Uma Inversa Navegação. O Discurso da Identidade. Porto, Edições Afrontamento, 1996.
MEDEIROS, Carlos Alberto, “Por uma Geografia Humana e Regional”. Finisterra, XXXII, 63, 1997.
MELO, Daniel, Salazarismo e Cultura Popular (1933-1958), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 2001.
MOTA, Arsénio, Estudos Regionais sobre a Bairrada. Porto, Livraria Figueirinhas, 1993.
MOTA, Arsénio, Pela Bairrada. Edição da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 1998.
PINTO, José Madureira, “O Estado: Heranças Esquecidas, Desafios Emergentes”, Público, 09.07.2002.
POLÈSE, Mario, Economia Urbana e Regional. Lógica espacial das transformações económicas, Coimbra, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, 1998.
RIBEIRO, Aquilino, Palavras no Tempo, Volume 2. Cultura. Diário de Notícias/Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
RIBEIRO, Orlando, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1986.
RIBEIRO, Orlando, Introdução ao Estudo da Geografia Regional. Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1987.
RONCAYOLO, Marcel, «Região». Enciclopédia Einaudi, vol. 8, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986.
SILVA, Antunes da, “Breve apontamento sobre uma nova literatura regional”, Vértice, nº. 56/5, Abril/Maio, 1948.
VERDELHO, Evelina, Linguagem Regional e Linguagem Popular no Romance Regionalista Português. Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 1982.