António Manuel Couto Viana nasceu em Viana do Castelo, em 24 de Janeiro de 1923. Professor do ensino liceal, foi também encenador, dramaturgo e tradutor, contista e figurinista, ensaísta e gastrónomo, poeta. Era isto tudo ao mesmo tempo, mas foi sobretudo como poeta que se notabilizou no panorama cultural português, e também como pessoa com fortes ligações ao teatro: inicialmente como actor, pela mão de David Mourão-Ferreira, e mais tarde como empresário e director. A esta sua inclinação para o teatro não terá sido alheia a herança que recebeu do avô: o teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo.
 Com 25 anos, publicou o primeiro livro de poemas em 1948, O Avestruz Lírico, título que concentra, segundo Fernando Pinto do Amaral, “a ressonância simbólica associada ao avestruz – animal que, como se sabe, opta por enterrar a cabeça na areia diante das dificuldades – neste caso suplementada com o adjectivo lírico e implicando, por isso, uma resposta aos problemas da vida através da simples entrega ao canto ou à poesia [sendo que] o avestruz simboliza também a profunda frustração do sujeito, que, tal como acontecia no famoso ‘albatroz de Baudelaire’, se identifica com um ser portador de uma insolúvel ambivalência, dado que, sendo uma ave e possuindo naturalmente um par de asas, não consegue elevar-se do solo e voar livremente pelo céu”.
Com 25 anos, publicou o primeiro livro de poemas em 1948, O Avestruz Lírico, título que concentra, segundo Fernando Pinto do Amaral, “a ressonância simbólica associada ao avestruz – animal que, como se sabe, opta por enterrar a cabeça na areia diante das dificuldades – neste caso suplementada com o adjectivo lírico e implicando, por isso, uma resposta aos problemas da vida através da simples entrega ao canto ou à poesia [sendo que] o avestruz simboliza também a profunda frustração do sujeito, que, tal como acontecia no famoso ‘albatroz de Baudelaire’, se identifica com um ser portador de uma insolúvel ambivalência, dado que, sendo uma ave e possuindo naturalmente um par de asas, não consegue elevar-se do solo e voar livremente pelo céu”.
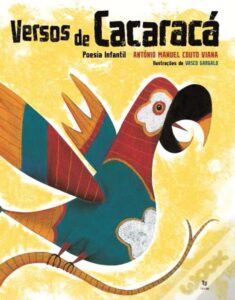 Depois destas primícias literárias, a sua obra viria a avolumar-se com mais de uma centena de livros de diferentes géneros. A obra poética foi traduzida para o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o russo e até o chinês, a que não terá sido alheia a sua permanência em Macau, onde viveu entre 1986 e 1988, exercendo funções docentes no Instituto Cultural daquele antigo território português.
Depois destas primícias literárias, a sua obra viria a avolumar-se com mais de uma centena de livros de diferentes géneros. A obra poética foi traduzida para o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o russo e até o chinês, a que não terá sido alheia a sua permanência em Macau, onde viveu entre 1986 e 1988, exercendo funções docentes no Instituto Cultural daquele antigo território português.
Na década de 1950-1960 empenhou-se na direcção e publicação de algumas revistas literárias e culturais. Entre elas contam-se os cadernos de poesia Graal e também a revista Távola Redonda (“folhas de poesia” que não enjeitavam a influência presencista e da qual se distanciavam tanto o surrealismo como o neo-realismo), que ajudou a fundar em 1950, de parceria com David Mourão-Ferreira, Ruy Cinatti, Fernanda Botelho e Alberto de Lacerda. Estamos a falar de publicações conotadas com a direita intelectual portuguesa da 2.ª metade do século XX.
Numa espécie de reacção a alguma poesia programática do neo-realismo, num evidente menosprezo pelas suas propostas de intervenção social, Couto Viana manifestava nestes oito versos a crença numa identidade muito peculiar e, como acentua Fernando Pinto do Amaral, a sua “faceta indubitavelmente solipsista”:
Podem pedir-me, em vão,
Poemas sociais,
Amor de irmão pra irmão
E outras coisas mais:
Falo de mim – só falo
Daquilo que conheço.
O resto… calo
E esqueço.
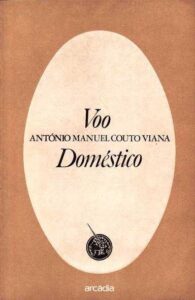 Como escreveu Manuel de Freitas: “a obra de Couto Viana nunca deixou de acreditar na biografia enquanto fundamento poético. Poder-se-ia mesmo dizer que o autor tem procurado levar às últimas consequências um conselho sábio de Montaigne: Falo de mim. Só falo/ daquilo que conheço (…). A procura de um ‘efeito de realidade’ poderá inclusivamente explicar, pelo menos em parte, o coloquialismo e a ligeireza aparente de alguns dos melhores versos de Couto Viana”. Digamos que o poeta contrapunha ao canto do social o canto de si mesmo.
Como escreveu Manuel de Freitas: “a obra de Couto Viana nunca deixou de acreditar na biografia enquanto fundamento poético. Poder-se-ia mesmo dizer que o autor tem procurado levar às últimas consequências um conselho sábio de Montaigne: Falo de mim. Só falo/ daquilo que conheço (…). A procura de um ‘efeito de realidade’ poderá inclusivamente explicar, pelo menos em parte, o coloquialismo e a ligeireza aparente de alguns dos melhores versos de Couto Viana”. Digamos que o poeta contrapunha ao canto do social o canto de si mesmo.
Há, na obra de Couto Viana, uma patente exaltação nacionalista e patriótica de Portugal e da História. O poeta simpatizava com o Estado Novo, ao ponto de ter sido convidado pela Mocidade Portuguesa, depois de publicado O Avestruz Lírico, para suceder a Baltazar Rebelo de Sousa na direcção da revista juvenil Camarada. Não admira, assim, que depois da revolução de Abril de 1974 tenha dado mostras de profunda desilusão por aquilo que considerava ser uma evidente decadência da pátria portuguesa. Num texto intitulado “Portugal”, esboça desta forma cáustica e amarga o fim do império português:
Este mendigo, outrora, era um menino d’oiro,
Teve um Império seu, mas deixou-se roubar.
Hoje, não sabe já́ se é castelhano ou moiro
E vai às praias ver se ainda lhe resta o mar!
É esse mesmo desencanto com uma “pátria doente” e aviltada, amputada dos seus territórios, que transparece em “De Profundis”, poema de A Face Nua e incluído posteriormente na antologia Sou Quem Fui, p. 130:
Agora, o meu país são dois palmos de chão
Para uma cova estreita e resignada.
Tem o formato exacto de um caixão.
Agora, o meu país é pó, é cinza, é nada.
Reduziram-no assim para caber na mão
Fechada.
 A silicose do esquecimento que se abateu sobre o seu nome, de forma mais notória nos últimos anos de vida, terá mais a ver com a declarada ideologia conservadora, monárquica e imperialista, do que com a qualidade da vasta obra que nos legou. É isso que acontece quando, para afirmar ideologias, se embrulha no mais denso esquecimento uma obra que justifica, retrospectivamente, a vida de quem a produziu. Uma obra que algumas escolas literárias procuraram refutar ou desvalorizar, recusando-se a ver nele um poeta digno desse nome.
A silicose do esquecimento que se abateu sobre o seu nome, de forma mais notória nos últimos anos de vida, terá mais a ver com a declarada ideologia conservadora, monárquica e imperialista, do que com a qualidade da vasta obra que nos legou. É isso que acontece quando, para afirmar ideologias, se embrulha no mais denso esquecimento uma obra que justifica, retrospectivamente, a vida de quem a produziu. Uma obra que algumas escolas literárias procuraram refutar ou desvalorizar, recusando-se a ver nele um poeta digno desse nome.
Da extensa obra em prosa e verso destacamos, para lá de O Avestruz Lírico (1948), também títulos como Pátria Exausta (1971), Coração Arquivista (1977), o volume Uma vez, uma voz (de 1983, que reúne a sua obra poética quase completa), Café de Subúrbio (1991), Prefiro Pátria às Rosas (1998) e Sou Quem Fui (2000), a antologia de uma obra que então se estendia já por cinco décadas, onde deparamos, segundo Manuel de Freitas, com a “delicada rememoração da infância e das suas personagens centrais [que] vai cedendo lugar às artes poéticas, aos anos da Távola Redonda e, finalmente, aos poemas sobre Macau e a melancólicas reflexões sobre a velhice”. Como acontece neste “Madrigal da terceira idade para afastar a solidão” fiel à nossa tradição lírica, que integra Disse e Repito (Averno, Lisboa, 2008), onde podemos detectar a necessidade afectiva de uma vida em idade avançada, evadida do mundo exterior e embrulhada em espessa melancolia:
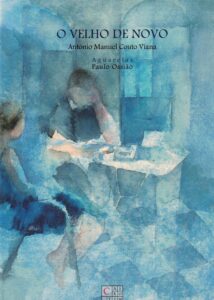 É um amor discreto,
É um amor discreto,
Ignorado, até.
Só um gesto de afecto,
Um sorriso secreto,
Desfeito, se alguém vê.
É um amor tranquilo,
De alguém que quer alguém
Prá solidão do asilo.
— Coração, ao senti-lo,
Nem aceleras, nem…
É um amor-amizade.
Um amor-simpatia.
Mas, mesmo assim, ele há-de
Deixar dor e saudade
E gerar poesia.
Nos últimos anos de vida o poeta viveu recluído na Casa do Artista, onde continuou a escrever e a publicar os seus trabalhos, numa espécie de combate da memória contra o esquecimento do seu nome e da sua estética, contra o esquecimento de alguém que nunca despertou consensos. Segundo Fernando Pinto do Amaral, importa avaliar a sua obra para lá das conotações políticas e ideológicas do tempo que lhe foi dado viver. Para lá disso, a sua escrita encerra virtualidades: há, nela, “uma reacção positiva que a reconcilia com o mundo (…), a atenção a um quotidiano banal e sereno, observado, por exemplo, no ambiente urbano e rotineiro de um pequeno e anónimo café/esplanada”. É essa atenção ao banal e ao rotineiro que este belo poema ilustra:
Ela está só, em mesa separada.
Bebe uma água mineral.
A aliança no dedo, a dizer que é casada.
Tem, todavia, um tique de mulher fatal.
Ele está só. Solteiro? Não tem nada
No anelar esquerdo. Bebe uma «imperial».
A mesma idade, aproximada.
A mesma classe social.
Ele encara-a, descarado. Ela, indignada,
Volta-lhe a cara, num parece-mal.
Mas, quando se levanta e abandona a esplanada,
Passa por ele num passo lento e sensual.
Ele vai-lhe, de pronto, na peugada.
E uma hora depois, numa esplanada igual,
Vejo-os à mesma mesa, de mão dada,
Como um feliz casal.
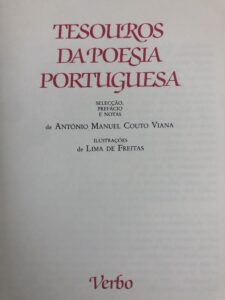 Parece ter chegado o tempo de inventariar com o rigor possível – aplacados que estão alguns ódios de estimação e algumas paixões políticas – a vasta obra, necessariamente desigual, deste poeta menorizado pela instituição literária. Uma obra com méritos e defeitos no singular panorama poético português, que sempre recusou o valor social da poesia e optou por “inflamadas versões de tipo nacionalista” (Pedro Sena-Lino). Alguma arrogância do autor – em entrevistas e até derramada num ou noutro verso, não terão ajudado ao necessário distanciamento crítico: “É estéril e seco o horizonte/ de quem ignora a minha poesia” (in Sou Quem Fui, p. 116).
Parece ter chegado o tempo de inventariar com o rigor possível – aplacados que estão alguns ódios de estimação e algumas paixões políticas – a vasta obra, necessariamente desigual, deste poeta menorizado pela instituição literária. Uma obra com méritos e defeitos no singular panorama poético português, que sempre recusou o valor social da poesia e optou por “inflamadas versões de tipo nacionalista” (Pedro Sena-Lino). Alguma arrogância do autor – em entrevistas e até derramada num ou noutro verso, não terão ajudado ao necessário distanciamento crítico: “É estéril e seco o horizonte/ de quem ignora a minha poesia” (in Sou Quem Fui, p. 116).
Para se aferir a qualidade de uma obra não são necessárias afinidades ideológicas. É o que nos diz David Mourão-Ferreira quando se refere a Couto Viana: “Tanto no poeta como no crítico são por demais evidentes – têm-mo sido sempre com coerência admirável – determinadas opções ideológicas que, justamente porque muito distintas e distantes das minhas, nunca deixei de compreender e de respeitar”.
Se a responsabilidade do poeta consiste em escrever versos capazes de sobreviver às circunstâncias históricas do seu tempo, então precisamos de nos libertar da crosta dos preconceitos para reconhecer o talento e os méritos dos que prestam relevantes serviços à causa pública, sempre que for caso disso. Assim acontece com este poeta que muitos preferem manter arquivado.
Consultas:
Manuel de Freitas, “O avestruz lírico”, Expresso (n.º e data não identificados).
Blog “Vício da Poesia (https://viciodapoesia.com)
A.M. Couto Viana, 60 Anos de Poesia (prefácio de Fernando Pinto do Amaral)
A.M. Couto Viana, “O artista transversal”, Visão, 17.06.2010, p. 26
Pedro Sena-Lino, “A lira do real pergunta”, Público, 01.05. 2004 (Livros-Poesia, p. 14).
A.M. Couto Viana, Coração Arquivista (prefácio de David Mourão Ferreira).
