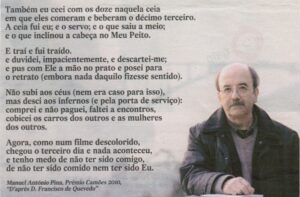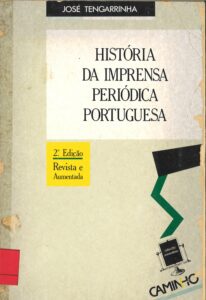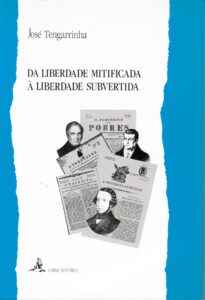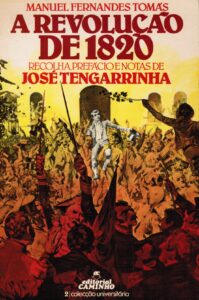Com este título, escreve o meu amigo Paulo de Carvalho:
“Nuno Severiano Teixeira, na Antena 1,
sobre o facto de à direita haver, agora,
mais dois partidos bem distintos do CDS:
“O CDS tem de perceber que há mais dois
na disputa do mercado eleitoral.”
Portanto, a ver se percebi bem…
Os políticos são empresários,
os partidos, empresas,
os cidadãos, oportunidades financeiras.
Competitividade, em lugar de representatividade.
Nada de debate de ideias sobre a melhor forma
de conduzir um país, apenas um produto atractivo,
capaz de converter o eleitor em consumidor.
Convenhamos que é um passo adiante
àquele que já há muito se deu,
quando em campanhas eleitorais
se quer fisgar a ignorância do cidadão
de preferência à sua competência crítica.
É de aplaudir o inovador!
Burros, com antolhos, que comam a palha
que o mais esperto lhes ponha à frente,
assim nos querem certos políticos.
Escrevi lucidez no título. É condição de, a lucidez.
Deveria ter escrito liberdade.
Pois é a liberdade que nos querem comprar,
quando o pensamento político se converte
em linguajar de empreendedor…””
Agora digo eu:

É exactamente este o deplorável “estado da arte” política que o Paulo descreve. Só falta, mesmo, apropriarem-se da nossa lucidez, alienarem a nossa liberdade. Parecem preferir súbditos de mente aprisionada, treinados para a obediência, a cidadãos livres e actuantes. Querem-nos medíocres e desprovidos de imaginação, para assim criarem uma vasta área de mercado onde possam babar-se (sem receio de virem a ser penalizados) da sua própria mediocridade.
Quero crer que os meios de comunicação social – com os diferentes canais de televisão à cabeça – têm grande responsabilidade neste estado de coisas: bombardeiam-nos com quase-notícias e não-notícias, com a repetição indecorosa de imagens até à náusea, com directos imprevistos de tudo quanto seja pontapé na bola, com rodapés salpicados de frivolidade, com enlatados de gosto duvidoso, com debates agressivos onde se interrompe de forma sistemática o oponente (o que transforma qualquer debate de ideias num improvável circo romano), com factos banais transformados em “acontecimentos históricos”. A competição entre canais privilegia a divulgação do escândalo. Quanto mais escândalo, mais sucesso comercial. Parece haver de tudo, nesta sementeira do mal. Mas falta qualquer coisa, para a qual o texto do Paulo exemplarmente remete: uma verdadeira ética dos cuidados.
Contra este insulto à inteligência, recordo alguns avisos já divulgados em livro. Um, mais antigo, de 1995, é de Karl Popper e John Condry e chama-se “Televisão: um perigo para a democracia”. Diz Popper: “a democracia não pode subsistir de uma forma duradoura enquanto o poder da televisão não for totalmente esclarecido”. Resta saber se quem detém o poder não deixa degradar de forma deliberada a qualidade da televisão, para melhor a controlar. O outro livro é de Pierre Bourdieu, “Sobre a Televisão”, e nele se pode ler que a televisão “faz correr um perigo muito grande às diferentes esferas da produção cultural” e “faz correr um não menor risco à vida política e à democracia”. Estou em crer que se estes textos-tese fossem lidos e seguidos como merecem, talvez desse húmus cultural pudessem brotar as raízes de um futuro mais inteligente, mais humano e solidário.
Infelizmente, e descontando o teórico da “sociedade aberta”, o liberal Popper, citar alguns textos avisados de Bourdieu, nos tempos que correm, significa correr o sério risco de virmos a ser acusados de “marxismo cultural” pelos cultores da dialéctica rasteira do pró e do contra, que seguramente nunca leram “O Poder Simbólico” e pouco ou nada sabem da teoria do campo de forças na sociologia e dos agentes (refiro-me ao poder político, seja ele de esquerda ou de direita) sempre predispostos a dominá-lo em seu proveito. O que pessoas desse calibre secretamente desejam, para entretenimento das massas, é que mil televisões privadas floresçam, em nome do seu muito peculiar conceito de liberdade, de concorrência, de crença inabalável nas virtudes do capital e do deus-mercado. Querem lá saber das preocupações de Popper ou Bourdieu!… Ao triunfo da cultura e dos padrões de decência preferem os picos de audiência nos reality-shows, à potência do acto criativo preferem a evasão e o adormecimento dos espectadores alienados e subsumidos no homem-massa.
Contra este lodaçal, este vale tudo mediático, contra os pugilistas da palavra manietados nas suas certezas de granito, contra esta peixeirada que nos dá o circo em vez da tribuna honrada, apetece arremessar a lúcida frase de Antoni Tàpies, retirada de “A Prática da Arte”, p. 59:
“Não facilitando verdadeiramente a difusão e o ensino da autêntica cultura formativa, e continuando com a ideia hipócrita de que convém dar o que o vulgo pede, nunca se formará, naturalmente, a sensibilidade necessária”.
Caro Paulo: para terminar, e já que este texto gira em torno dos malefícios da televisão, a melhor forma que encontrei para te agradecer tanta (e tão necessária!) lucidez é, para lá do abraço grande de inteira amizade, este “Ensaio sobre o quotidiano”, de Luis Filipe Castro Mendes, inserido em “A Misericórdia dos Mercados“, p. 24:
O quotidiano não cega:
Nós é que estamos distraídos.
Não pensamos, ouvimos falar na televisão
Pessoas que pensam que estão a pensar
E assim ganham a sua vida.
Dói-nos a vida, mas dizem-nos que merecemos,
Porque pensámos em viver do mesmo modo
Que as pessoas que pensam que estão a pensar
E falam na televisão.
Agora as pessoas que pensam que estão a pensar
E ganham a vida na televisão
Dizem-nos que perdemos a nossa
E é bem feito
E ainda devia doer mais!
O quotidiano não cega: nós
É que estamos distraídos.