 Cumpriu-se, no passado dia 26 de Maio, o centenário de nascimento de Ruben Alfredo Andresen Leitão, conhecido literariamente por Ruben A. O ficcionista, historiador, ensaísta e crítico, primo da poetisa Sophia de Mello Breyner, morreu prematuramente em 1975, num tempo em que as paixões políticas não deixavam qualquer espaço para a reflexão literária e das artes em geral. Contava apenas 55 anos.
Cumpriu-se, no passado dia 26 de Maio, o centenário de nascimento de Ruben Alfredo Andresen Leitão, conhecido literariamente por Ruben A. O ficcionista, historiador, ensaísta e crítico, primo da poetisa Sophia de Mello Breyner, morreu prematuramente em 1975, num tempo em que as paixões políticas não deixavam qualquer espaço para a reflexão literária e das artes em geral. Contava apenas 55 anos.
Ruben A. nunca foi um autor canónico, alguém que se deixasse manietar por qualquer corrente literária ou por qualquer estrutura formal de pensamento. O gosto de inovar, de percorrer caminhos novos, tendo sempre a ironia e o humor por companheiros, colidiam frontalmente com o cinzentismo português dos anos 50 e 60 do século passado. Essa faceta independente e heterodoxa – que Eduardo Lourenço associa ao espírito de liberdade e à “recusa de vender a alma em troca de verdades menores”,[1] não agradava aos próceres do regime ditatorial, nem àqueles que então lhe resistiam e o combatiam de forma mais consistente e aguerrida no plano político, literário e artístico em geral, apesar dos seus dogmas e intolerâncias: os neo-realistas.
Salazar comenta deste modo o livro de Ruben A., Páginas II: “O livro, ou é de um louco ou de um sujeito que, tendo dinheiro para pagar um livro de dislates, se propôs rir-se de todos nós (…). As porcarias, obscenidades, palavrões juncam o livro (…). Parece-me que o livro pertence a uma onda modernista, e não é um caso para a Censura e para a polícia dos costumes. Mas se o autor é leitor em Londres, temos nós de ver o que escreve e como escreve. Em conclusão: o Autor não pode representar Portugal nem ensinar português. (…). E já não falo de certas taras morais e sexuais, do livro se vê que o Autor deve pertencer aí a um círculo de pessoas que a polícia persegue”.[2]
No início dos anos 60, os neo-realistas denunciavam com olhar severo o fechamento hermético e elitista do modernismo e de certas vanguardas (do novo romance à poesia experimental, passando pelo concretismo, que é um dos seus ramos). Desconfiavam da arte abstracta e das tendências estéticas que se alimentavam da solidão, do drama individual, do tédio, da fuga ao quotidiano, da náusea e do desespero. A tal estado de coisas contrapunham uma literatura de resistência e de combate, e uma arte interferente, embora, enquanto movimento estético – evitemos interpretações equívocas e redutoras – tenha sido bem mais do que isso. O certo é que a incompreensão e o anátema se abateram sobre os escritores, artistas e intelectuais que, recusando frontalmente o Estado Novo de Salazar, não enfileiravam no movimento neo-realista.
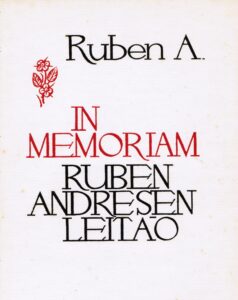 Sem deixar de reconhecer ao neo-realismo a importância que tem uma literatura de emergência, Artur Portela Filho – que é, com Alfredo Margarido, um dos introdutores em Portugal do Nouveau Roman, “o rasgão que permitirá à literatura portuguesa libertar-se da disciplina neo-realista” – não deixa de o criticar de forma contundente: “O neo-realismo apoderou-se da maioria das posições-chave da vida literária portuguesa: editoras, páginas literárias, júris. Aí exerce uma vigorosa pressão e organiza uma hierarquia de valores. Aí se negam ou se diminuem cuidadosamente sólidas figuras literárias que escapam à sua disciplina. O destino do escritor português é o neo-realismo ou o anonimato”.[3]
Sem deixar de reconhecer ao neo-realismo a importância que tem uma literatura de emergência, Artur Portela Filho – que é, com Alfredo Margarido, um dos introdutores em Portugal do Nouveau Roman, “o rasgão que permitirá à literatura portuguesa libertar-se da disciplina neo-realista” – não deixa de o criticar de forma contundente: “O neo-realismo apoderou-se da maioria das posições-chave da vida literária portuguesa: editoras, páginas literárias, júris. Aí exerce uma vigorosa pressão e organiza uma hierarquia de valores. Aí se negam ou se diminuem cuidadosamente sólidas figuras literárias que escapam à sua disciplina. O destino do escritor português é o neo-realismo ou o anonimato”.[3]
Dessa condenação ao quase desprezo pelas suas obras não se livraram, à época, figuras de proa da vida cultural portuguesa como Jorge de Sena ou Eduardo Lourenço. Ou até Ruben Andresen Leitão, que nos dá conta disso na sua autobiografia: “O Alentejo dava porcos e neo-realismo, e passados mais de vinte anos continuava ainda a dar porcos e neo-realismo, tal o atraso de subdesenvolvimento em que nos encontramos. A cobertura quase total, os críticos mais apaixonados, tudo que não estivesse na defesa do povo, era condenado. Eu estaria para sempre condenado – um apátrida das letras”.[4]
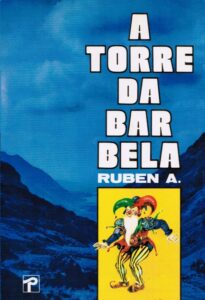 Alexandre O’Neill expressou de forma eloquente esta faceta irreverente do autor de A Torre de Barbela: “Ao coro de rãs, respondeu Ruben A. com algumas arreliantes dissonâncias, enfim, com o que nele era vivo pressentimento de que uma obra se faz a contrapeso do gosto mediano”.[5]
Alexandre O’Neill expressou de forma eloquente esta faceta irreverente do autor de A Torre de Barbela: “Ao coro de rãs, respondeu Ruben A. com algumas arreliantes dissonâncias, enfim, com o que nele era vivo pressentimento de que uma obra se faz a contrapeso do gosto mediano”.[5]
Ruben A. não se livrou do rótulo de simpatizante monárquico, que de forma expedita lhe colaram para denegrir a sua imagem pública e apoucar o seu nome honrado. Como se não existissem monárquicos – como Carlos Malheiro Dias – bem mais livres e arejados nas ideias que certos republicanos que acabaram acomodados e até assimilados pelo Estado Novo. Assim se condenavam ao anonimato e reduziam ao nada nomes hoje consagrados da ficção portuguesa da época.
[1] Eduardo Lourenço, Heterodoxia, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987, pp. 213-214.
[2] Carta de António de Oliveira Salazar ao ministro da Educação, in O Mundo de Ruben A., citada por José Carlos de Vasconcelos (Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 1295, 20 de Maio de 2020, p. 3).
[3] Jornal de Letras e Artes, n.º 35, 06.06.1962, p. 9.
[4] Ruben A., O Mundo à Minha Procura, II. Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 1966, p. 156.
[5] Alexandre O’Neill, citado por Guilherme d’ Oliveira Martins, “À procura do mundo” (Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 1295, 20 de Maio de 2020, p. 11).