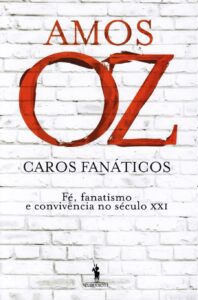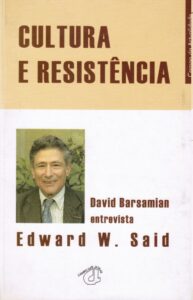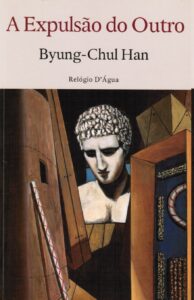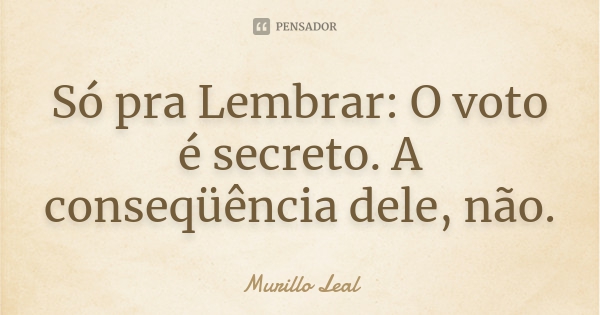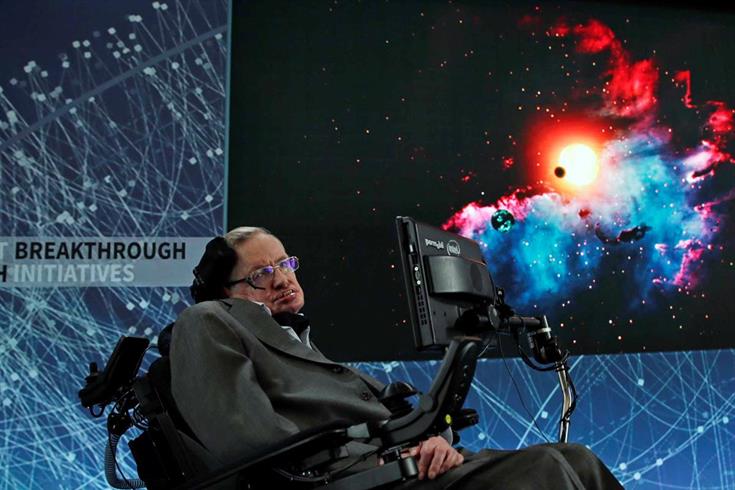Miguel Duarte, aluno de doutoramento no Instituto Superior Técnico, anda há quatro anos a salvar refugiados no Mediterrâneo. Sabemos agora que a sua generosidade corre o risco de ser premiada com pena de detenção que pode ir até aos vinte anos. Num gemido de humanidade, que devia ser amplificado até poder ouvir-se por todos, declarou ao Observador: “Quando vejo uma pessoa a morrer afogada não lhe pergunto se tem passaporte. Tiro-a da água”. Eis aqui um valor cristão essencial: amar o próximo, com tudo o que isso significa de o ajudar quando mais precisa.
Na última edição do semanário Expresso Miguel Duarte assina um texto com o título: O que será de nós quando tivermos medo de estender a mão? A dado passo escreve, como quem nos martela a consciência:
“Ao sair para o convés olho para o mar escuro e consigo discernir ondas enormes só disfarçadas pela escuridão da noite (…). À chegada, deparamo-nos com um barco de borracha furado que se vai enchendo de água e desfazendo a pouco e pouco, dezenas de pessoas agarradas às cada vez mais escassas partes do barco, que permanecem à tona e outras tantas já dentro de água tentando, sem esperança, agarrar-se a algo que ainda flutue. A cada onda que passa, mais três ou quatro desafortunados são arrastados impiedosamente para as águas negras num estado de pânico sem descrição que lhe faça justiça (…). No final, naquele momento em que estamos a dois braços de distância, é que nos chega realmente a consciência de que estamos perante pessoas”.
Li isto com o coração alvoroçado e recordei o que disse, em 1992, o filósofo italiano Giorgio Agamben: “Hoje, somos todos refugiados”. E dei comigo a pensar que é muitas vezes a nossa incapacidade para nos colocarmos no lugar do outro que nos distancia ou torna menos sensíveis a estas tragédias. E se estivesse lá eu, com um filho pequeno, com um pai ou uma mãe, a correr risco vida? Não gostaria de ser salvo? E que experiência seria deambular no mar alto dias a fio, numa frágil embarcação apinhada de gente, exposto a vagas alterosas e a um sol inclemente? Seria possível dormir na vertical, fragilizado pela sede e pela fome em noites de breu e de ventos marítimos que enregelam o corpo até à medula? E que sensação experimentaria ao satisfazer as necessidades fisiológicas sem privacidade nem recato, no meio de toda aquela gente – homens, mulheres, crianças?
Bem sei que despejar esta e outras indignações nas redes sociais nada resolve, mas importa perceber a razão pela qual nem os perigos do mar travam o desespero de tantos seres humanos. E também importa perceber como é que a Europa chegou até aqui, a esta forma vergonhosa de tratar refugiados e migrantes. Uma Europa que parece ter esquecido que a história do mundo sempre foi uma história de migrações e que ela própria nasceu em torno da ideia de dignidade da pessoa humana. Esta é a grande tragédia do nosso tempo: a indiferença cada vez maior para com o nosso semelhante.
Compreendo e respeito os argumentos dos que dizem que a Europa não pode dar guarida a toda esta gigantesca mole humana, fustigada por guerras e conflitos políticos e religiosos um pouco por todo o lado. Os que hoje tentam a sua sorte e se aventuram na travessia do mar são a versão moderna dos boat people vietnamitas que entre 1975 e 1990 embarcaram em idêntica e arriscada aventura, abandonando uma terra sem futuro, em busca de melhor sorte. Gente sem eira nem beira, a quem os portos da Europa fecham as portas, encurralando-a numa espécie de cordão sanitário que é o cemitério líquido do Mediterrâneo. Miseráveis que o cínico pragmatismo político europeu encara como uma ameaça e prefere ver nas páginas de um romance de Victor Hugo.
Também compreendo que a Itália e a Grécia não podem arcar sozinhas com a responsabilidade de acolher nos seus territórios esta enorme vaga de refugiados. E também não vale a pena sermos ingénuos ao ponto de não ver que entre essa gente há radicais islâmicos infiltrados nas embarcações, dissimulados com falsas famílias, ou mesmo traficantes de seres humanos. Sendo tudo isso verdade, nada justifica a tolerância zero que a Itália pratica. A tolerância zero é o outro nome dado à intolerância. Em vez de lavar as mãos como Pilatos, pode a Europa acolher alguma desta gente, procedendo a uma triagem onde o pragmatismo político não se sobreponha às questões éticas e humanitárias. Na cristianíssima Itália, muitos dos que elegeram Salvini e apoiam as suas medidas isolacionistas contra os refugiados são os mesmos que declaram guerra ao aborto e à eutanásia em nome do indeclinável direito à vida. Bem prega Frei Tomás…

Nem acolhimento indiscriminado nem rejeição radical. Apenas se pede um módico de tolerância e humanidade, sobretudo quando a escolha é entre acolher ou deixar morrer o nosso semelhante, um ser humano com direito à dignidade. Os relatos recorrentes destes naufrágios são um insulto à dignidade humana. A criminalização de quem ajuda a salvar vidas é um escarro lançado à nossa consciência. Não é só Veneza que se afunda. É também a Europa que cai a pique, ao perder cada vez mais as referências da sua ancestral tradição humanista.
O que fazem Miguel Duarte e outros voluntários, recusando-se a interpretar o dever de auxílio como letra morta, parece ser o pouco que sobra da dignidade europeia. Nestes tempos sombrios em que um simples gesto humanitário se arrisca a ser tratado como crime, cada vez me sinto mais rodeado de gente habitada por desertos, onde morre sem eco tudo o que a vida tem de mais apaixonante.
Desculpem-me o desabafo, mas esta foi a melhor forma que encontrei para espantar os fantasmas que não deixam de nos dizer que há inferno. Às vezes chego mesmo a pensar que ele já nasceu comigo…