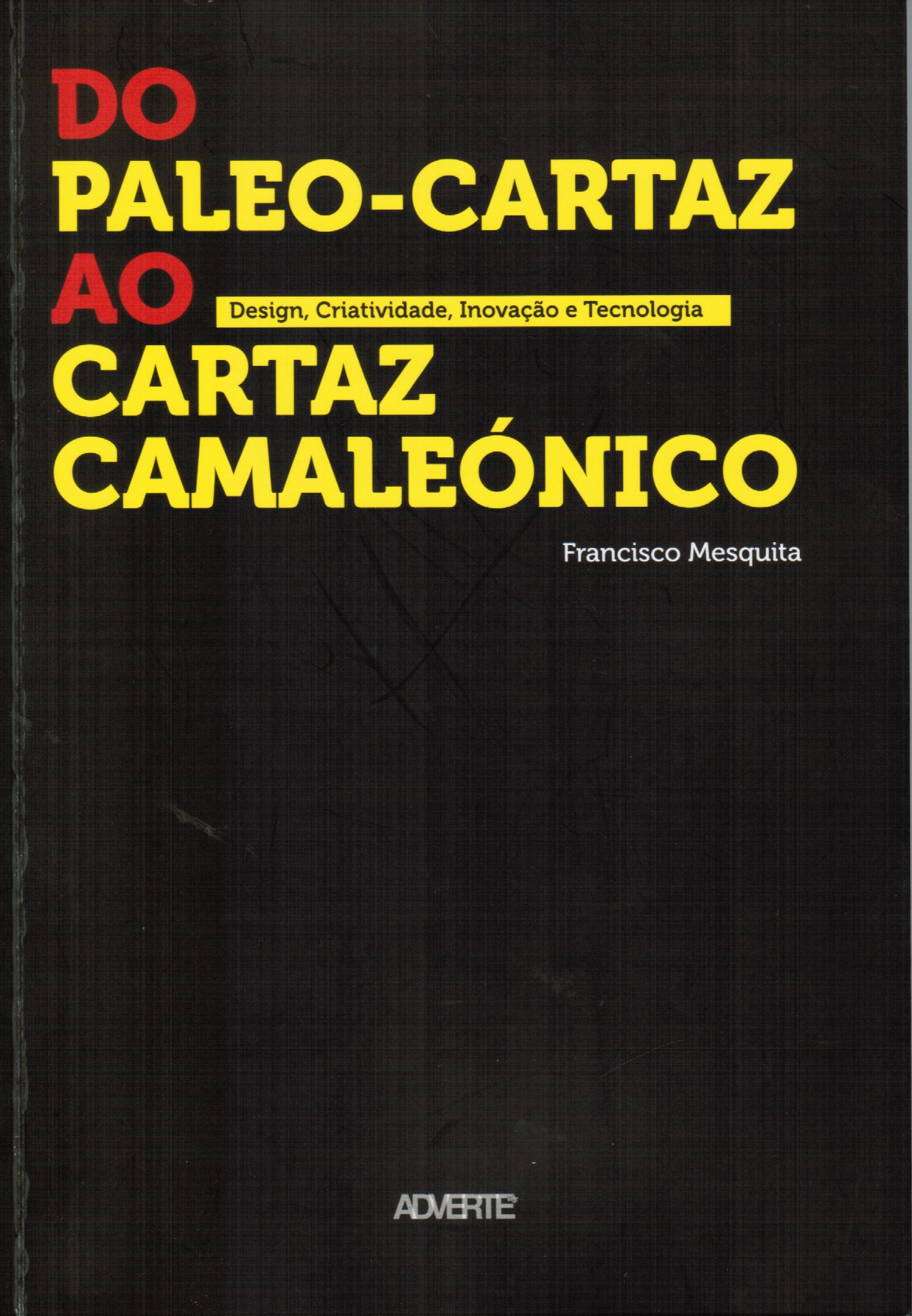“A beleza é o nome que dou às coisas em troca do agrado que elas me dão”
– Alberto Caeiro
Não é preciso ser especialista em arte para reagir a uma obra. Assim aconteceu com a estátua de Camilo, colocada há 11 anos em frente da antiga Cadeia da Relação. Pouco faltou para que fosse parar ao sótão das coisas inúteis, à guarda da Câmara Municipal do Porto. Nada que nos espante, pois já antes tinha acontecido o mesmo com O Cubo da Ribeira, do escultor José Rodrigues, cercado pelas intensas labaredas da polémica.
No trabalho escultórico de Francisco Simões, Camilo está vestido dos pés à cabeça e abraça uma mulher nua. Uma petição de 37 figuras das artes, da política e da cultura (entre elas o administrador Artur Santos Silva, o escritor Mário Cláudio e os políticos António Lobo Xavier e Ilda Figueiredo) veio exigir a remoção da estátua. Na origem estão razões de ordem estética e de ordem moral. Passo ao lado das razões de ordem estética, atenta a reconhecida subjectividade da arte, que sendo intemporal não tem de agradar a todos e não existe apenas para o deleite de nossos olhos. A arte expressa as nossas ambivalências e leva-nos a reflectir sobre os conceitos de beleza e fealdade, ordem e caos, além de cumprir a função de transferir ideias e provocar pensamentos.
Deixemos então de lado as apreciações de natureza estética. Falemos em questões de ordem temporal, moral e de legitimidade política.
Ordem temporal: o que leva 37 cidadãos a reagir 11 anos depois da estátua ter sido exposta na baixa portuense? Só agora se deram conta do incómodo? Só agora despertaram para o “desgosto estético” e para a “reprovação moral”? Ou será que estas oscilações do gosto andam atreladas a preconceitos acumulados ao longo dos anos?

Legitimidade política: como é que uma petição assinada por 37 pessoas tem representatividade suficiente para conseguir revogar uma deliberação municipal de 2012 que aprovou, por unanimidade, a doação e a implantação da escultura naquele local? Será que esses 37 “cidadãos ilustres”, acantonados numa espécie de casulo elitista, são detentores da verdade e capazes de decidir o melhor em nome de todos? A pergunta não é inocente: remete para a natureza íntima do poder e para as diferentes formas da sua legitimação. Rui Moreira parece recuar – na decisão inicial que tomou – aos tempos em que o liberal Herculano desconfiava das maiorias ignaras, ou a um tempo mais recente em que o Integralismo Lusitano classificava a democracia como o triunfo da mediocridade.
Questões morais. Alguns signatários confessam que aquilo que os move é a defesa da memória de Ana Plácido, que partilhou com Camilo um romance de amor que os levaria à prisão, condenados por adultério. Má sorte a deles, menos afortunados que D. João V, que no século anterior escapou ileso à “escandalosa mancebia” com as freiras do convento de Odivelas. Ficariam juntos entre 1861, ano de saída da cadeia, e 1890, ano fatídico em que Camilo resolve estoirar os miolos em São Miguel de Seide.
Acontece que o argumento dos zelosos defensores da honra de Ana Plácido cai por terra a partir do momento em que o escultor Francisco Simões afirma que a mulher nua abraçada a Camilo é uma mulher simbólica, em homenagem às várias figuras femininas que atravessaram a vida atribulada do escritor. Para uns, se a mulher está nua, Camilo também devia estar (11 penosos anos ao relento e ao frio, coitada da rapariga…). Para outros, o melhor seria ficarem ambos vestidos. Curiosamente, ninguém equacionou a possibilidade de a mulher ficar vestida e Camilo despido, com as nádegas ao léu. Que comentários fariam? Diriam que o escritor estava exposto à humilhação?

Ilda Figueiredo (é comovente a sintonia da vereadora da CDU com António Lobo Xavier em questões morais e de costumes) fala em “subalternização inaceitável” e em menorização da mulher. Entretanto, após ouvir as explicações do autor da obra… já recuou! Não se tratando de Ana Plácido nua – a petição fala de “um exemplar mais ou menos pornográfico” – mas de uma mulher simbólica, a coisa muda de figura. A mudança de opinião de Ilda Figueiredo assenta numa lógica de ferro, para não dizer da batata: se a imagem representa uma mulher nua em concreto, existe subalternização e humilhação feminina; se a imagem for “simbólica”, representativa das mulheres que tiveram influência na vida e na obra de Camilo, “já não faz sentido esta polémica”. Camilo com mulher nua, tudo bem; com Ana Plácido nua, nem pensar. Isto é: Camilo está autorizado a colocar a mão direita naquelas formas redondas e suculentas – ao mesmo tempo que hesita num título para o livro: Amor de Perdição ou Rabo de Salvação? – porque elas não pertencem a Ana Plácido, são de todas as mulheres com quem ele se relacionou. Dir-se-ia que a pornografia e o escândalo se diluem à medida que caminhamos do particular para o geral e do concreto para o abstracto.
É neste tipo de paradoxos (ou os 2 nus ou os 2 vestidos, vistam a mulher ou dispam Camilo) que muitas vezes incorre um certo discurso woke e politicamente correcto: por detrás do radicalismo verbal esconde-se, não raras vezes, uma inegável opção puritana e conservadora. A representação de uma mulher nua ainda incomoda muita gente, quase cinquenta anos depois da revolução de Abril. Provam-no os argumentos morais de “nudez”, “assédio” e “pornografia” em que assenta o pedido de remoção da estátua.
Respeitando a subjectividade inerente à apreciação de qualquer obra de arte, não prescindo de deixar aqui exarada a minha opinião: Camilo está vestido dos pés à cabeça porque era inverno e soprava um gélido vento. A mulher está nua porque, mesmo sendo inverno, se viu obrigada a prescindir da roupa para não sucumbir aos calores que dela se apoderavam. Outra hipótese, talvez menos verosímil: Camilo deambulava por aquelas bandas e, sem saber como nem porquê, aquela mulher nua corre para ele cai-lhe nos braços, à procura de agasalho. Nua, talvez por ter sido apanhada em flagrante delito e sem tempo para repor as vestes que lhe tapassem as vergonhas.

E digo mais: nunca me passou pela cabeça que a mulher nua da estátua fosse Ana Plácido (diz-se que era avançada para aquela época de beijos castos, que fumava charutos e vestia calças, embora duvide que estivesse disposta a servir de modelo e a mostrar o corpinho como Deus a trouxe ao mundo). Não a conheci pessoalmente, mas bastam-me as fotografias. Embora vestida, consigo despi-la com o olhar, um olhar que não deixa de ser uma incursão na intimidade. E não há comparação possível: uma viola é uma viola e um armário é um armário.
Sejamos claros: não é a defesa da mulher independente que está em causa, como referem os moralistas de argumentação pífia. O que assusta é a confrangedora incapacidade que os impede de distinguir o erotismo da pornografia e os leva a enfiar no mesmo saco da apreciação estética a Vénus do Milo ou um qualquer Zé das Caldas.
Entretanto, depois de ter dito que a estátua é “feia” e de “mau gosto” – um direito que lhe assiste, partilhado também por alguns dos que se opõem a que a obra seja removida – Rui Moreira já recuou. A decisão foi revertida, embora admita que mais tarde possa ser reapreciada. O mesmo é dizer, não podemos dormir descansados. O ovo da serpente não foi enterrado (vale a pena lembrar que foi a partir da serpente, filmada no ovo e que a indiferença social deixou crescer, que nos anos 30 do século XX alguém de má memória se lembrou de retirar dos museus a «arte degenerada»).

Esta deriva moralista dos que parecem desconhecer que na arte também existe uma estética do feio e dos que censuram o feio e o mal em nome do belo e do bem, não vai abrandar. Ou continuamos vigilantes, ou não será apenas a estátua de Camilo que nos podem subtrair do olhar. Outras correm o mesmo risco: a de Eça em Lisboa, “A Melhor Casta” em Alpiarça, a de Redol em Vila Franca de Xira, ou a de José Rodrigues que simboliza “Os Poetas”, em Barcelos.
A Arte, seja ela qual for, deve interpelar-nos mas não nos deve chocar. Já o mesmo não se poderá dizer da vulgaridade.